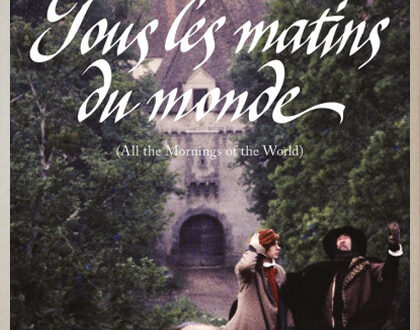Por Lucio Carvalho,
para a Especiaria.
Entrevistamos Pedro Marques, que pesquisa há diversos anos a musicalidade na obra lírica de Manuel Bandeira, para a Especiaria. O professor, poeta, compositor e ensaísta é autor de, entre outros livros, Manuel Bandeira e a música – com três poemas visitados, publicação da Ateliê Editorial de 2008. O livro baseia-se em sua dissertação de mestrado defendida na Unicamp e reúne também estudos de caso a partir de três livros do escritor: Ritmo dissoluto, Libertinagem e Estrela da manhã. A entrevista foi concedida por e-mail.
Especiaria – O seu livro que trata da musicalidade na obra poética de Manuel Bandeira é de 2008, mas parece que você já era músico antes de começar a estudar essa intersecção. Você conseguiria nos dizer quando foi que notou a presença da musicalidade nos versos de Bandeira? Quero dizer: foi à leitura da própria poesia ou por interpretações que conheceu?
Pedro Marques – Que pergunta bacana, por várias razões! A principal delas é permitir que eu diga o seguinte: quem for estudar um objeto poético cientificamente pode apostar em seus gostos, suas vivências e intuições. Partir delas para chegar ao rigor científico, fortalecê-las com método sem, ao mesmo tempo, perder de vista o que nos movia de início. Sim, cheguei a essa questão da musicalidade em Manuel Bandeira ainda durante o Ensino Médio. Eu já era compositor de canções, mais especificamente de letras para canções. Tinha um colega chamado Rodrigo Sá Pedro, meu parceiro até hoje, que tocava violão, compunha e cantava. Comecei a fazer letras para ele musicar ou para encaixar dentro de melodias já prontas. Uma amostra desse material, aliás, ele gravou no EP Outro (2019). A gente gostava de Bandeira, lia na escola e sentia a força sonora de alguns poemas musicados pelos Secos e Molhados (Secos e Molhados, 1973) e pelo Tom Jobim (Antônio Carlos Brasileiro, 1994). Assim, quando a Dona Edda, nossa professora de literatura, pediu que escolhêssemos um poeta modernista para um seminário, não tivemos dúvida nenhuma: o Bandeira é nosso, professora! Depois, quando fui fazer Letras na Unicamp, novamente uma professora, agora a Orna Messer Levin, pediu para os alunos analisarem poemas de algum poeta brasileiro. E lá fui escrever sobre os versos musicais de Bandeira. Ela curtiu, me pegou pela mão e me orientou da iniciação científica até o doutorado. Ou seja, a coisa ficou séria, precisei converter a diversão da leitura/escuta em análise crítico-teórica. Brotou dessa história o livro Manuel Bandeira e a Música (2008), fruto do meu mestrado.
Especiaria – Das versões musicadas de Bandeira que há, qual a sua preferida? O que nela chama a sua atenção e desperta a sensibilidade musical?
Pedro Marques – Estamos falando de um dos poetas literários ou de livro que teve mais poemas musicados, sobretudo pelos compositores de música vocal de câmara, os conhecidos lieder. Difícil escolher, mas para tocar na curiosidade dos leitores, no campo do bel canto, recomendo a escuta de “Canção do Mar”, musicada por Lorenzo Fernandes e cantada pela extraordinária Maria Lúcia Godoy, que dedicou um LP inteiro ao poeta (Maria Lúcia Godoy Canta Poemas de Manuel Bandeira, 1966). Esse texto, na verdade, foi publicado com o título de “Cantiga”, no livro Estrala da Manhã (1936). São redondilhas menores estruturadas em células rítmicas bem regulares, repletas de repetições e paralelismo. Tudo isso ajudou o compositor a estilizar a estrutura dos cantos para Iemanjá, principalmente na mão esquerda do piano, cuja percussividade apoia a ondulação melódica que ricocheteia dos graves aos agudos, como numa relação entre mar e céu duelando no horizonte. Já para uma canção popular, ouça-se o antológico poema “Vou-me embora pra Pasárgada”, do livro Libertinagem (1930), musicado por Gilberto Gil. Gravada no disco Estrela da Vida Inteira (1986), homenagem de Olívia Hime ao centenário de nascimento do poeta, essas redondilhas maiores foram acopladas ao ritmo de ijexá nas mãos de Gil, que, assim, fez um texto super luso-brasileiro namorar o além-mar africano e do oriente, representado pela cidade mitológica de Pasárgada. Todo o clima de delírio original é amplificado, principalmente porque agora pode ser cantado. Uma beleza!
Especiaria – A presença da canção popular e seus elementos tradicionais é uma constante na poesia de Bandeira. Parece que ele, aliás, evoca muitas vezes o cancioneiro e motivações infantis. Como você avalia a influência desse patrimônio imaterial na obra de Bandeira? Haveria espécie de influência, mescla, reelaboração?
Pedro Marques – É preciso explicar, como fiz num capítulo do livro, o que para Bandeira e sua geração significava canção popular. Para eles, esse termo estava mais ligado à canção folclórica ou tradicional, aquela que não tem muito dono, que você aprende em circunstâncias sociais, inclusive em festas coletivas como quermesses, carnavais e folias de reis. A canção popular comercial que conhecemos hoje, consagrada pelo rádio e depois pela TV, gerava o interesse meio pitoresco em Bandeira. Na época da pesquisa, consultando cartas e outros documentos, notei que, em geral, os poetas modernistas não tinham interesse algum de se aproximar das composições de gente como Sinhô, Orestes Barbosa, Noel Rosa, Luís Gonzaga ou Tonico e Tinoco. Tudo isso soava fake para eles, tomados por um nacionalismo – que hoje sabemos cheio de preconceitos e caricaturas –, preferiam a canção “autêntica” do povo, como um ponto de candomblé, um pregão de comercio popular, uma quadra de brincadeira infantil. Todo esse patrimônio imaterial, como você bem coloca, funcionava como espécie de lastro para uma poesia que queria ser mais brasileira que europeia, mais local que cosmopolita. É claro que o popular na poesia modernista é mais afetado que efetivo, isto é, não se tratava da linguagem oral do povo em suas variantes, mas de emular isso numa língua culta e literária. “Evocação do Recife”, também de Libertinagem (1930), é exemplar nesse sentido. Bandeira chegou a gravar esse poema em disco, e entoa as melodias das passagens colhidas ao domínio público, como em “Roseira dá-me uma rosa / Craveiro dá-me um botão”.
Especiaria – No que diz respeito ao fraseado e construção melódica, parece que muitas vezes o poeta persegue a intenção de “soar” como um compositor musical. Qual a impressão que você tem a esse respeito? A poesia de Bandeira lhe parece musical porque seria essa a sua intenção ou por uma característica interna própria? Quais os compositores que lhe parece terem mais influenciado o poeta nessa aproximação?
Pedro Marques – Bandeira era de uma geração que entendia a versificação metrificada ou livre como trabalho necessariamente sonoro, sem o qual as camadas imagéticas ou conteudistas da lírica desmoronariam. Ritmo, métrica, acentuação, rima, verso ou estrofe não eram para eles expedientes gráficos ou perfuntórios, mas recursos musicais dentro da língua em si. Hoje, muitos poeta de livro perderam essa consciência, esquecendo que mesmo o chamado verso livre foi definido por Mário de Andrade a partir da harmonia musical, e por T.S. Eliot da música instrumental de concerto. Ou seja, mesmo que recebesse influxos diretos de músicos como Robert Schumann, no livro Carnaval (1919), ou de Heitor Villa-Lobos, com quem colaborou nas Bachianas Brasileiras no. 5 (1947), Bandeira sempre soube que um poema deve funcionar como voz, e não apenas como experiência intelectual em silêncio. Nas suas reflexões críticas sobre poesia própria e alheia, essa consciência nunca descansa, vejam-se, nesse sentido, as memórias Itinerário de Pasárgada e os ensaios De Poetas e de Poesia, ambos de 1954. Para o leitor que nos acompanha, deixo então uma dica: quando for ler Bandeira procure se tornar também um vocalista desses versos, invista seu corpo e mente em peças como “Na Rua do Sabão” e “Profundamente”. Mesmo sem conhecimento técnico sobre versificação ou música, suas habilidades de falante do português brasileiro hão de fazer o poema respirar e soar.
Especiaria – O mundo poético de Bandeira parece muitas vezes dividido entre o prosaico e provinciano e a agitação cosmopolita. No entanto, é nos primeiros livros que ele parece mais ousada ritmicamente. Até que ponto se pode perceber na sua literatura o desenvolvimento da música do séc. XX?
Pedro Marques – Acho que Bandeira é sempre provinciano e cosmopolita em todos os livros, no sentido de que sempre mobiliza suas origens pernambucanas junto a sua erudição ocidental. A formação cristã, a vivência na cultura popular e a leitura do dadaísmo, por exemplo, podem brotar ao mesmo tempo, como em “Sacha e o Poeta”. Sobre a ousadia rítmica, ele sempre ousa em diálogo com o contexto de sua época. Em Carnaval (1919) a polimetria pode emular a música descritivista de Claude Dedussy e Erik Satie. Em O Ritmo Dissoluto (1924), os versos livres se aproximam da polirritmia de Igor Stravinski e Villa-Lobos. Em Estrela da Tarde (1963), seu último livro sério, ele cria jogos fonético-fonológicos porosos à poesia concreta de Haroldo de Campos e à música eletroacústica de Luciano Berio. Para mim, Bandeira é um poeta da soma, ele começa parnaso-simbolista e vai acrescentando coisas novas, para frente e para trás de seu tempo histórico, sem se desfazer de nenhuma conquista. Tipo, é alguém que faz trovinha e poesia visual no mesmo livro, sem nenhum constrangimento, porque tudo é possível como técnica em movimento. Isso tudo acaba complicando a vida da crítica que sai colando rótulos na testa dos poetas, não?
Especiaria – A lírica de Bandeira aparece em muitos momentos impregnada por motivos órficos, pelo carnaval, pelo jazz. Mesmo não sendo uma poesia simples de cantar, é possível reconhecer essa musicalidade interna. Pelo que você pesquisou, o poeta escrevia sob inspiração musical ou preferia o silêncio?
Pedro Marques – Difícil dizer com exatidão, mas certamente a música o acompanhou sempre, como ouvinte propriamente e até como leitor de teoria musical. Ele é de uma época em que a reprodução mecânica da música começa a se consolidar, quando o gramofone e a máquina de escrever passam a fazer parte do mobiliário cotidiano. Ou seja, o que é normal para a gente hoje, ouvir a música que se quer no momento desejado, simplesmente não existia. Para ouvir uma sonata de Beethoven, é esperar a programação da sala de concertos; para ouvir um samba, é saber onde tem uma roda sem repressão da polícia. Depois, com os discos de acetado, pode-se ter certo acervo musical em casa, e aí Bandeira pode ter começado a ler e escrever com música ambiente, a partir dos anos de 1920. Taí uma pesquisa a ser realizada: o que rodaria no gramofone de Bandeira?
Especiaria – Um dos elementos menos conhecidos pelos leigos em música é a questão da harmonia. Em Bandeira, parece haver uma proporção ideal de composição ou lhe parece que ele explorava a liberdade modernista de forma menos programática?
Pedro Marques – De fato, não só a harmonia, tal como pensada hoje a partir da música europeia, é de difícil entendimento para os não músicos, como a própria história do conceito é repleta de curvas. Uma das grandes frustrações confessas de Bandeira é não ter sido músico, o que o levou a tentar fazer justamente com que sua poesia simulasse a simultaneidade semelhante à música. E simultaneidade em música quer dizer, embora não apenas, harmonia, isto é, a execução de mais de um som ao mesmo tempo. Ora, em poesia lemos ou dizemos um som depois do outro, sílaba depois de sílaba. Pode-se ler um poema em duas vozes simultâneas dizendo versos diferentes? Sim, como certa polifonia medieval, mas o efeito é de alarido, de incompreensão, algo que pode funcionar como experimento estético, como fiz no meu livro-disco Cena Absurdo (2016). O normal da poesia é a monodia, a linha vocal rolando em série. A harmonia em poesia, principalmente se for em livro, pode ser conquistada por efeito. Assim é que Mario de Andrade propõe o incrível “verso harmônico” no prefácio da Pauliceia Desvairada (1922), que é a tentativa de criar efeitos mentais de simultaneidade poética, posto que a página do livro restringe que tal ocorra acusticamente. Tal formulação foi decisiva para Manuel Bandeira consolidar seu modo de fazer verso livre, como demostro na análise que faço de “Na Rua do Sabão” e “Pensão Familiar”. Bandeira nunca tomou a liberdade modernista ao pé da letra, sempre a concebeu como liberdade para experimentar com rigor e técnica. Assim, dentro disso, conseguiu criar a sensação de harmonias internas aos poemas ou mesmo no modo como organizava os livros.
Especiaria – Na sua sensibilidade, a poesia de Bandeira poderia ser melhor descrita como sensorial ou emocional? Poderia nos explicar um pouco a respeito do que lhe fascinou e comunicou na obra do pernambucano?
Pedro Marques – Penso que ela emociona, a mim e boa parte das pessoas que conheço, justamente pela capacidade com que mexe com nossas capacidades sensoriais. São as memorias dos entes queridos já partidos, como em “Profundamente”. É o erotismo cinematográfico de “Nu”. Ou são os olhos que soam como a voz da cantora em “Maysa”. Aqui retomo ao começo da nossa conversa. Quando fui leitor adolescente, tudo isso era emoção meio inexplicada, como um gesto espontâneo do poeta genial. Mas pesquisar poesia é como dissecar a borboleta sem assassiná-la. É buscar e explicar as razões do voo, os cálculos que redundam em beleza e, no final, se emocionar mais ainda em lugar se ir se endurecendo com os anos. Que a poesia de Manuel Bandeira siga no ar!
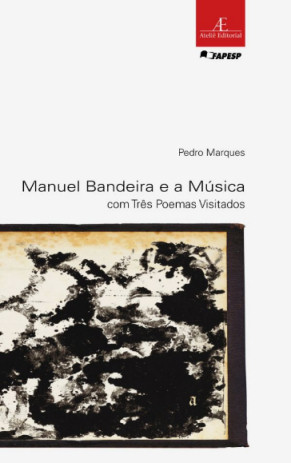
Pedro Marques (1977-). Poeta, compositor, ensaísta. Professor de Literatura Brasileira da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Editor do site Poesia à Mão. Livros: Antologia da Poesia Romântica Brasileira (crítica e organização, 2007), Antologia da Poesia Parnasiana Brasileira (crítica e organização, 2007), Manuel Bandeira e a Música (ensaio, 2008), Clusters (poesia, 2010), Olegário Mariano – Série Essencial da ABL (crítica e organização, 2012) e Cena Absurdo (Poesia, 2016).