Benedito Costa
Curitiba – PR
(…) nossos prédios carbonizados pelo uivo do tempo (…)
Por que a literatura do escritor romeno Mircea Cărtărescu é tão relevante? O que, afinal, essa escrita traz de novidade, num tempo histórico em que tudo parece ter sido dito, num tempo histórico em que todo gênero parece ter rompido sua própria camisa-de-força?
Uma amiga do curso de Engenharia Eletrônica fez o seguinte comentário, certo dia: “eu deveria ter escolhido Engenharia Mecânica, porque lá eu conseguiria enxergar as coisas”. Ela se referia a dispositivos eletrônicos e a placas de circuito impresso, que, de fato, podemos enxergar no todo mais não nos detalhes. Esse comentário muito pertinente dela, feito há mais de trinta anos, se refere a mundos e universos que não podemos ver, seja pelo tamanho (à época, lidávamos com coisas na proporção de “mili” ou “micro” alguma-coisa e hoje lidamos com “nano” e já se fala em “pico”; e, por outro lado, de “mega” pulamos para “tera”1), seja ainda por algo “mágico” que ocorre no interior de dispositivos e sistemas inteiros. É uma mágica que, logicamente, por ser mapeada por certa matemática – embora há de se ter bastante imaginação para lidar, por exemplo, com números complexos, um dos grandes paradoxos da matemática – e por certas regras físico-químicas. De lá para cá, o universo misterioso da eletrônica apenas se desenvolveu mais, aqui e ali de modo exponencial e é quase um milagre que possamos usar um celular para falar com alguém do outro lado do mundo, no interior de um grande sistema “celular”, que envolve tecnologia de ponta, abstração, pesquisa, uso de componentes caros e raros, embora continuemos a não enxergar exatamente o que ocorre no interior desse universo.
Não em vão Cărtărescu escolheu um solenoide para dar nome a seu livro. Temos aí um universo físico, que podemos enxergar, mas todo um universo (também físico) mas que não podemos ver. Entre o que podemos ver e o que não podemos ver está justamente o humano. E a escrita de Solenoide está entre esses dois extremos.
O autor disse em entrevista que escreveu Solenoide à mão, ao longo de cinco anos, sem um plano e sem revisão. Segundo ele mesmo, o autor é como um portal, pelo qual se permite que a literatura flua2. Acreditemos ou não no autor, a obra é um grande feito literário, quer pelo tamanho, quer pela abrangência de dados, que cobrem várias áreas do conhecimento. Poucos e raros autores enveredam pelo caminho da literatura enciclopédica – e Cărtărescu é um deles.
Costumo ver aqui e ali, nas raras vezes em que alguém enfrenta a dura tarefa de criticar o autor romeno, que sua escrita é “barroca” ou “neo-barroca”. Um leitor desatento entenderia esse discurso como aquele que remete a uma escrita “trabalhada”, plena de figuras de linguagem, ou requintada o bastante (aqui penso em particular no Concerto Barroco, de Alejo Carpentier e nas extensas descrições de objetos tão estranhos como se próximos ao absurdo de seu Século das luzes). Um leitor mais cuidadoso talvez visse no discurso um elemento comum ao barroco, o horror vacui. Mas esse discurso é apenas um modo de se entender o processo criativo do autor romeno. Há outras escolas artísticas e outros processos que preenchem – ou tentam preencher – cada centímetro de um todo. Penso aqui em obras como o Templo de Xiaoxitian, uma das construções mais intrincadas da Dinastia Ming. Ou penso que seria de mais interesse imaginar que a escrita de Cărtărescu é um horror vacui ela mesma, mas em outro sentido, o aristotélico. Não pode existir o nada, pois sempre haverá algo no espaço entre objetos3.
Uma boa análise do livro poderia começar pelo narrador, em primeira pessoa. Ora o narrador se aproximará do sujeito Mircea Cărtărescu, ora será separado dele quase até o rompimento, o que não será possível, pois haverá um fio de prata ligando ambos. Vários autores utilizam tal estratagema, e não é de hoje. E talvez até hoje a Teoria Literária não tenha respostas definitivas sobre o narrador, até porque as teorias do eu, do outro/Outro, das vozes que falam por mim, dentre tantas outras possibilidades, trouxeram mais perguntas que respostas sobre quem fala num romance. Talvez seja fácil averiguar que, na chamada literatura atual de autoficção, quem fale ali seja o próprio escritor (e há exemplos bastantes, mas citarei o caso recente de Édouard Louis e da laureada com o Nobel Annie Ernaux), mas quem provará? E a pergunta imediatamente posterior seria: que diferença faz? Não a responderei aqui. De todo modo, autores das mais diferentes vertentes da escrita literárias mesclam um narrador-eu ou um eu-narrador, com os efeitos mais curiosos, e nem falo de uma literatura memorialística, como a de Naipaul (o Naipaul em particular de O enigma da chegada) ou autores mais recentes, como o fabuloso caso de Ingo Schulze. Em Celular, Schulze traz várias narrativas em que ele é o narrador, mas pistas deixadas por esse narrador (o nome da companheira do autor nascido em Dresden, por exemplo) mostram que não, que se trata apenas de um ardil. Autores como Sebald ou Bernhard ou Handke deixarão dúvidas também ao leitor, mas em Cărtărescu sua escrita via para outros terrenos, bem mais complexos.
Esse eu-Cărtărescu terá muitas proximidades com o Cărtărescu escritor; ambos vivem na capital da Romênia, ambos são ou foram professores, ambos cresceram atrás da cortina de ferro. Há, inclusive, detalhes sobre datas de nascimento e outros dados similares, mas as experiências serão distintas. De todo modo, o leitor pode se decidir se os sonhos e os universos paralelos maravilhosos, frequentados pelo narrador de Solenoide, não são ipsis literis sonhos do próprio Cărtărescu, transformados em literatura.
O livro inicia do modo mais prosaico possível: um menino narra os cuidados de sua mãe terá para cuidar de mais uma infestação de piolhos. Mas os recursos usados na narrativa dessa pequena história caseira já levam o leitor para outros universos: não apenas Cărtărescu mostra toda sua agilidade para descrição de coisas pequenas, como traz situações já inusitadas. O narrador dirá que retira do umbigo um barbante, de embalagem, “o mesmo barbante com que, vinte e sete nos atrás, costuraram meu umbigo naquela maternidade miserável” (Cărtărescu, p. 13). Assim, nasce o narrador (aliás, ele nasce e renasce muitas vezes), de um “eu” repleto de dúvidas sobre suas origens (embora trate de descrever pais e mães, casas e colégios, ruas e amigos) para um eu que frequentará os micro e os macro universos a seu redor.
Outros autores da atualidade lidam com estranhos universos ao seu redor, aquilo “que não vemos”, mas que existe. Haruki Murakami é um caso espetacular. Suas personagens podem viver em mundos paralelos – e voltar depois –, podem frequentar mundos paralelos a partir de um portal (penso em 1Q84 e Crõnica do pássaro de corda) ou podem ter contato a partir do aqui com esses mundos (penso em Kafka à beira-mar). No caso de Cărtărescu, no entanto, os mundos paralelos surgem como extensões muito naturais do mundo do aqui, sendo que na própria escrita ocorre uma mágica: de uma hora para outra o narrador encontra alguém e, após um caminho muito natural pela rua, ambos entram num universo diferente, lisérgico, mágico, sobrenatural, intergalático ou universos em que os corpos do aqui se transforam em coisas muito grandes, a partir do que se pode ver o mínimo, ou, o contrário, em corpos muito pequenos, a partir dos quais se pode ver o máximo. E essa desterritorialização é natural. Ninguém reclama dela ou a teme a ponto de sair em retirada. E, de um lá, os personagens voltam para um aqui. A máquina universal é estranha, e permite entradas e saídas igualmente estranhas.
Em outras escritas do autor, o leitor já tinha se deparado com um gabinete de curiosidades. Cărtărescu é obcecado por objetos, detalhes, curiosidades, excentricidades. Pode, num momento, descrever o movimento de um tardígrado e no momento seguinte a complexa abertura de um cofre chinês imaginário. Então, ele, sem querer, ou fazendo isso conscientemente dá as mãos a Borges, muito mais do que a Murakami. Essa escrita lembrará, logicamente, autores que lidam com os universos maravilhosos dos mitos – e são tantos – mas Cărtărescu constrói sua própria enciclopédia. Nela, cabem os horrores dos universos dos parasitas e dos insetos, a despeito de lhe causar admiração como a morte das coisas provocadas, por esses mesmos insetos e parasitas, traz vida. A vida, afinal, é resultado de um processo que envolve a morte e digamos que esse véu cobre o livro todo. Se há um aspecto político – e sei que há, mas prefiro falar disso noutra hora – Cărtărescu remeterá sua intrincada narrativa à história recente da Romênia.
E sua escrita seria apenas uma lista imensa de dados? É como um passeio num museu de tudo, de história natural a figurinos? Não. O narrador deixa pistas aos leitores, para que eles procurem dados extras. Pode ser a menção a uma música, pode ser menção a um escritor romeno, pode ser a insinuação de que o leitor percorre junto das personagens os segredos da Tábua Esmeraldina, em particular a Lei da Correspondência.
Diante dessa lei, não apenas o mundo micro se espelha no mundo macro, e vice-versa, como os universos são expansíveis. Uma casa não é apenas uma casa e sim um universo dentro do outro, pois a lógica das coisas comuns nessa Bucareste melancólica não é a comum. Suzana Clarke, com seu misterioso Piranesi, e Lenora Carrington, em A corneta, lidam maravilhosamente bem com estruturas arquitetônicas, mas Solenoide estaria mais para o misticismo de Santa Teresa, com seu Castelo Interior, ou obras tão remotas – mais igualmente possíveis numa enciclopédia – como Batalha de amor em sonho de Polifilo, obra atribuída a Francesco Colonna, ou as obras daquele Rabelais que encantou tanto Bakhtin que promoveu a cunhagem de um novo conceito, a carnavalização. Mas Piranesi aqui é tentador. Como não podemos acessar as casas de Piranesi, Cărtărescu faz isso, e mostra o que há de suntuoso e mágico nos ambientes móveis daquelas estruturas, um pouco fantasmagóricas por fora.
Na primeira parte do livro temos algo como um Bildungsroman. Depois, o livro se abre como uma flor-de-lótus. Haverá uma fábrica, aqueles que serão chamados de os piqueteiros, haverá a presença sombria de um colégio para meninos assim como a presença instigante de um gêmeo, algo como um duplo. Haverá traumas sem solução, uma vez que inatingíveis para cura, e haverá amores, colegas de trabalho, alunos, ou seja, uma vida. No entanto, não se tratará – falando de romances gigantescos ou de ciclos gigantescos, da descrição de uma vida comum. O romance de Cărtărescu pode ser todos os romances num só e por isso mesmo longe de algo comum. Essas histórias serão tratadas – com aval do próprio narrador para eu afirmar isso – de bonecas russas, de mapas místicos, de bibliotecas infinitas, de mundos construídos ao modo daquelas cúpulas de vidro barrocas no interior das quais se construía todo um cenário, fosse a vida de um santo ou a paixão de Cristo.
Nesses universos construídos assim, como exotismos, haverá referências a Brasília (mais de uma vez, como se a cidade fosse um exemplo de lógica moderna) e a Nazca (como se as planícies desse local ao sul do Peru representassem o inacessível), aos boiardos romenos, como símbolo de decadência, e, de forma direta ou indireta a Ceaușescu, sendo difícil dissociar a imagem desse político e seu imponente Palácio do Parlamento com a narrativa labiríntica de Cărtărescu
Então, a investigação é a do microscópio (ele chega ao nano), passando pelo simplesmente pequeno (o encontro de duas formigas) ao grande, ao macro, ao infindável, como se ele observasse que entre uma galáxia e a água que escorre num tanque caseiro há um mistério único, visível, mas insondável.
A partir da terceira parte, a narrativa migra para uma espécie de série de artigos, dentre os quais o narrador conta sobre coisas como o tesserato de Hinton, que é “a mandala mística de seu mundo e a chave que ele viu se adequar à fechadura de quartzo da quarta dimensão, aquela em que habitam os anjos mas também os demônios” (Cărtărescu, p. 434). Como mencionado acima, o narrador encontra um personagem – real ou fictício – e, com ele, passa a percorrer caminhos distintos e novos. A narrativa migra para outros locais, para outras realidades, mas depois, ele, o narrador, volta, como houvesse sonhado. Longe de mim, aqui, enveredar para a discussão sobre linguagem poética versus linguagem romanesca (ou ficcional, ou simplesmente da prosa), mas tais desvios são feitos de modo muito poético, ou seja, com recursos da poesia (“[…] nossos prédios carbonizados pelo uivo do tempo […”, p. 418), enverando para o texto poético em si, com poemas inseridos na narrativa. Valeria lembrar aqui que Solenoide começa com um trauma muito peculiar, que teria sido justamente a escrita de um poema.
Cărtărescu diz não à banalidade da escrita pequena e pouco trabalhada, algo muito persisente no mercado atual. Ele é o oposto da escrita comum e de grande vendagem, e apenas por isso – não um mero detalhe – merece ser lido e estudado.
Desde há muito o ser humano tem se perguntado o que o sonho é. Ele seria um presságio e por isso concreto… ele seria algo simbólico e, se sim, seria simbólico para um eu ou para uma coletividade (ou ambos)… haveria um inconsciente coletivo e, se sim, como os elementos desse coletivo foram pular lá na nossa cachola… como estariam lá, na forma de pigmeus nanométricos ou picométricos ou na forma de elementos químicos e configurações bioquímicas que, por uma explicação ou outra, construíssem um “sentido”? E o que seria esse sentido? A partir dessa pergunta, pode-se construir uma boa leitura de Solenoide. Na entrevista citada acima, o autor menciona duas outras obras, ainda sem tradução no Brasil: sua Melancolia e Theodorus, como exemplos de sua grande preocupação – e respeito – pelo humano.
Notas
1 Trata-se de potências de dez: ali, da menor, 10^-3 a 10^12. A tecnologia atual lida com proporções antes inimagináveis. O tamanho de um dispositivo eletrônico pode ter micrometros e os dados de um supercomputador podem ser medidos em terabites.
2 Cf.: An interview with Mircea Cărtărescu and Sean Cotter, author and translator of Solenoid | The Booker Prizes. Acesso em: 06 jun 2025.
3 Cf. o capítulo 4 da Física de Aristóteles.
Referências
. ARISTÓTELES. Física. Tradução de Geovane Companher. Campinas: Contra Errores Editorial, s/d.
. CARPENTIER, Alejo. Concerto Barroco. Tradução de Josely Vianna Batista. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.
. CARPENTIER, Alejo. O século das luzes. Tradução de Sérgio Molina. São Paulo: Companhia das Letras, 2024.
. CARRINGTON, Lenora. A corneta. Tradução de Fabiane Secches. São Paulo: Alfaguara, 2016.
CĂRTĂRESCU, Mircea. Solenoide. Tradução de Fernando Klabin. São Paulo: Mudaréu, 2024. Coleção Mundo Afora.
CLARKE, Susanna. Piranesi. Tradução de Hegi Regina Candiani. Campinas: Morro Branco, 2021.
COLONNA, Francesco (atribuído). Tradução do castelhano por Cláudio Giordano. São Paulo: Imprensa Oficial, 2009.
. ERNAUX, ANNIE. O lugar. Tradução de Marília Garcia. São Paulo: Fósforo, 2021.
. LOUIS, Édouard. Histoire da la violence: Paris, Seuil, 2016.
. MURAKAMI, Haruki. Kafka à beira-mar. Tradução de Leiko Gotoda. São Paulo: Alfaguara, 2008.
. MURAKAMI, Haruki. Crônica do Pássaro de Corda. Tradução de Eunice Suenaga. São Paulo: Alfaguara, 2017.
. NAIPAUL, V. S. O enigma da chegada. Tradução de Paulo Henriques Brito. São Paulo: Companhia das letras, 1994.
. SCHULZE, Ingo. Celular. Tradução de Marcelo Backes. São Paulo: CosacNaify, 2008.
Benedito Costa Neto Filho. Doutor em Letras, Estudos Literários, pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). É responsável pela coluna quinzenal Papel Máquina — altas literaturas do Jornal Plural e autor do livro Diante do Abismo, publicado pela Benvirá.

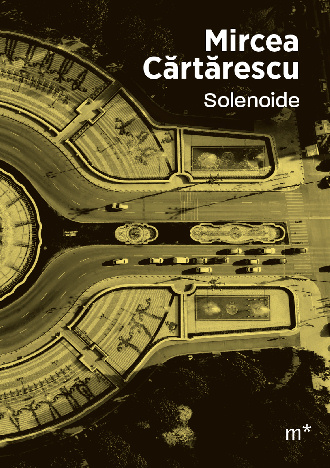


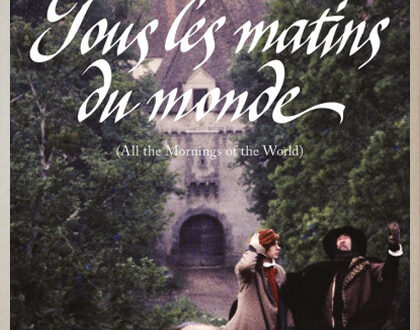
Excelente análise! Livro excepcional, vale demais a leitura.
Sobre os sonhos, em uma entrevista o autor conta que sua mãe era uma sonhadora de primeira categoria. Todos os dias, durante o café da manhã, ela contava pra ele os sonhos mais absurdos e malucos que ela havia tido durante a noite.