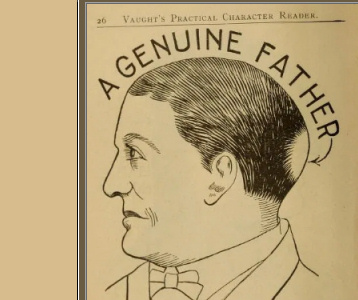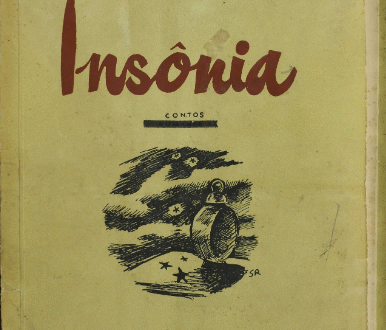Adriano Espíndola dos Santos
Fortaleza – CE
Ele não teria tempo de se divertir se não fosse por você. Todo dia, cansado, após o trabalho, seu filho pedia para brincar. Era rigorosamente assim: brincar antes de dormir ou assistir a um filme juntos. Ele hesitava, às vezes, por conta de alguns trabalhos que teria de fazer na madrugada, mas não tinha escolha, não podia deixar o filho, já que moravam juntos, e eram ele e filho, o filho e ele, sós. Chegavam em casa às 17h, o filho comia alguma coisa, tomava um banho (e dava trabalho para fazer isso) e depois brincavam. Era a parte do dia que tinham para ficarem curtindo um ao outro. Achava que fazia tudo pelo filho, levava-o ao médico, às aulas de natação, e nada mais – para ele era o suficiente. Ultimamente, não tinha tanto tempo para levar para passear. A palavra passear, na verdade, rareava. Era lindo ver o filho reluzir os olhos quando entrava num shopping, a cada seis meses. Nem mesmo iam aos encontros familiares de fim de semana, na casa da avó Leni, porque o pai era brigado com metade da família. Ele não era benquisto, porque, quando jovem, fora um homem bruto, arrogante e dono da razão. Por ser o mais velho dos três filhos de Leni, impunha a sua autoridade, já que não havia a figura de pai para os controlar. E ele passava muito do ponto. Batia. Berrava. Principalmente ao irmão do meio, o Leonardo, que cresceu cheio de traumas, ocasionados por ele, o pai. O que acontecia nos fins de semana? Quase sempre permaneciam em casa, o pai queria descansar; e, assim, o filho brincava muitas vezes só. Era proibido de descer no prédio onde moravam, apesar de ser um prédio tranquilo, com poucas e educadas crianças. O pai dizia que ele podia se desviar, podia se misturar com gente encrenqueira e mau-caráter. O filho era isolado mesmo no colégio. Tinha poucos amigos, talvez dois. O pai dizia que ele tinha de se manter distante dos bagunceiros, de quase todos os coleguinhas: “Eu conheço, são todos filhinhos da puta mimados!”. Ele, apesar de se achar um exímio pai, o pai que podia ser, não tinha tino para as tantas necessidades de uma criança, ou não queria fazê-lo, mesmo por birra, má vontade. Achava, por fim, que o filho podia se criar bem quase só, porque já tinha dez anos e entendia um pouco da vida; era “um puta guri inteligente”. Não se falava de Lenimar, a mãe que abandonara a casa, por motivos “desconhecidos”. Os motivos não eram falados, mas ele sabia muito bem que não fora um bom marido, que era contumaz traidor, e achava que isso não era motivo para ela abandonar a casa – que ela, sim, fora traidora do lar. O que se sabe é que ela morava agora em outro Estado, casada com um bom advogado. O filho já não perguntava tanto pela mãe. O pai ensinara, à força, a não falar sobre ela. E o clima era esse, pesado, de um homem e um filho abandonados, rejeitados, descrentes da vida. Para o pai, a culpa era do destino, que os fazia sofrer. Foram escolhidos aleatoriamente, pelas mãos do universo, para sofrer, e essa dor ele impingia ao filho, ainda que em doses homeopáticas.
Adriano Espíndola dos Santos é autor de “Flor no caos”, “Contículos de dores refratárias”, “O ano em que tudo começou”, “Em mim, a clausura e o motim” e “Não há de quê”. Advogado. Mestre em Direito. Especialista em Escrita Literária e em Revisão de Textos. Membro do Coletivo Delirantes. É dor e amor; e o que puder ser para se sentir vivo: o coração inquieto.