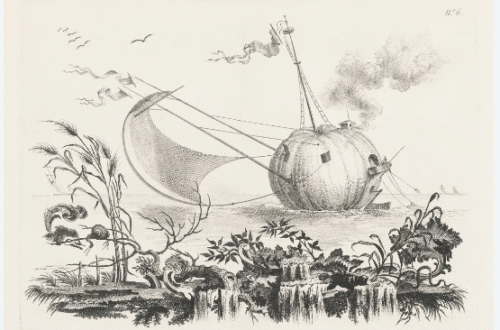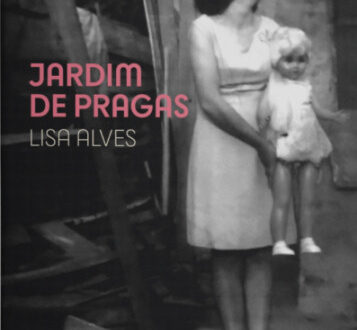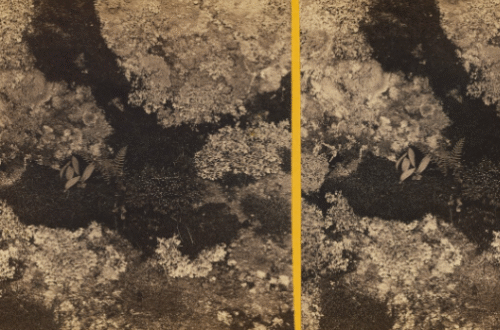Emir Rossoni
Nova Bassano – RS
O conto abre o livro Domanda Nísio.
Foi pelo bebê que fez o sinal da cruz. Àquela altura, tudo era pelo bebê. Por isso, antes de colocar os pratos, colocou o bebê no berço. Parecia mais calmo. “Si, sta meglio”, pensou enquanto entregava a palma da mão na testa pequena que acreditava não estar tão quente, estaria baixando a febre, claro que estaria, tudo ficaria bem, era só retornar para a cozinha, terminar de colocar os pratos à mesa, não demoraria muito, sempre eram apenas dois pratos, para ela e para o marido, dois pratos e dois copos, depois descer até o porão, encher o litro de vinho e terminar de cozinhar, era tarefa simples, não havia tanto que cozinhar, apenas ela e o marido, também não havia muito o que fazer, a despensa nunca estava cheia, quem sabe se Francisco tivesse sobrevivido nesse momento ele estaria já ajudando a trabalhar, estaria já com treze anos, estaria forte, já ajudando na lavoura, teriam mais do que comer, teria ela que colocar mais um prato à mesa, se Francisco tivesse sobrevivido, mas não, o primeiro filho não vingou, lembrou enquanto recolhia a mão da testa do bebê “Non è caldo, non è”, tentava dizer a si mesma, à medida que olhava o bebê antes de sair do quarto, provavelmente a febre estava baixando e no dia seguinte tudo ficaria tranquilo. Brustolou a polenta, colocou queijo por cima, estava já derretendo parte do queijo, criando casca escura, meio preta fora, mole por dentro, em cima da polenta, aquilo com radiche o marido gostava e tinha sopa de feijão, apesar de estar calor, apesar dela ter a testa pingando de suor ao lado do fogão, o fogo sempre aceso, lenha nunca faltava, não era problema, inverno e verão, o fogo só apagava antes de ir dormir. Afastou a polenta brustolada com o queijo e colocou num prato, sobre a mesa, posicionou a panela de sopa já cozida na beirada da chapa quente do fogão, onde não apanhasse tanto fogo e esperou o marido sentar à mesa. Primeiro, ele tomou um copo d’ água com quatro pedras de gelo. Depois, comeu meia fatia de polenta e serviu-se de vinho, aproveitando as pedras de gelo que haviam sobrado no copo. Tomou meio copo e friccionou a garganta para compensar a acidez do vinho. “Que caldo”, disse ele. “Caldo”, concordou ela, servindo um prato de sopa e levando até o marido. “El tatin ga febre”, complementou, esperando que ele dissesse para que o levasse a um médico, comprasse remédio, chamasse a Nonna Francesca para benzer ou qualquer outra coisa que desse resultado. Porém, tudo que ouviu foi o marido sorvendo a sopa. Sorvia em golpes rápidos, a cabeça bem rente ao prato encurtava o caminho e simplificava o gesto de levar a colher à boca. Quando terminou, pediu outro prato. “Da me altro”, sendo prontamente servido, enquanto ela apenas quebrava uma fatia de polenta da qual se havia servido, quebrava em minúsculos pedaços que ficavam lá, esfriando sem a menor possibilidade de serem ingeridos. Quando percebeu que não receberia a resposta do marido em relação ao bebê, levantou-se “Vou veder el tatim” e dirigiu-se ao quarto, onde percebeu o bebê na mesma posição, porém estava bastante calmo, mais calmo do que nunca, mais que o normal. Colocou a mão na cabeça do bebê, estava quente. Com febre e mais calmo que o normal. “Fermo e caldo”, pensou. E percebeu que era preciso fazer alguma coisa. Aquele era o terceiro filho, o terceiro, lembrava, e tudo que queria era que fosse o primeiro, o primeiro a vingar, a completar seis anos e ir para a escola, para ter uma vida melhor que o pai e a mãe, pensava. Por isso, andou rápido até a cozinha, apanhou um pano de prato pintado com um cacho de bananas, um abacaxi, uma pêra e um cacho de uvas e com a palavra sexta-feira escrita na base, molhou-o embaixo da torneira e retornou ao quarto, depositando o pano úmido na testa do bebê. Rezou uma ave-maria enquanto o segurava. Dessa forma, acreditava que o efeito poderia ser potencializado. Ao retirá-lo, após o amém, e colocar novamente a palma da mão na testa, percebeu que, de fato, estava menos quente. “Grazie, Madonna”, disse e voltou à cozinha, onde o marido passava um pedaço de pão no prato para juntar as gotas de sopa que não conseguira recolher com a colher. “Come sta”, perguntou. Ela disse que parecia estar mais calmo, esperava que continuasse assim. A cozinha também servia de sala e tinha o tamanho de cinco carroças, mais ou menos. Ali havia um fogão à lenha, um fogão a gás com a tampa permanentemente abaixada, com um guardanapo de crochê sobre ela e que só era retirado aos sábados ou quando recebia visitas e, sobre o guardanapo, um galo de cerâmica pintado com esmalte e com a crista quebrada, provavelmente devido a uma queda. Ao lado havia uma pia de material compensado azul bebê e uma cozinha americana, com alguns armários de madeira, quatro cadeiras de palha, uma mesa do mesmo material que a pia, a mesa sendo recolhida e já sem o marido que costumava tirar uma sesta após o almoço. Retirou as coisas da mesa sem pensar no que estava fazendo. Colocou os panos na gaveta sem dobrá-los e, na pia, empilhou as louças de maneira disforme. Pensava no bebê, sempre era assim. Pensava na reação do marido. Até o último copo da louça que lavou, rezou ave-marias e pai-nossos para ver se Deus ajudava, pelo menos dessa vez, que Deus ajudasse. Mas ao voltar ao quarto aconteceu foi que o bebê estava tremendo, quente da cabeça aos pés e teve a certeza de que nem os panos úmidos e nem os chás resolveriam a situação.
Podia se esperar qualquer coisa dela, pensou. “Tutto, se pensa”, falou em voz alta, menos que deixasse um filho morrer, com os outros dois não foi assim, “Non sono stata mi”, falou, não foi ela que matou os outros dois filhos, nem que os deixou morrer, “Non sono stata”, repetiu. E abriu a gaveta da penteadeira, tirou a roupinha de domingo do bebê, era rosa, a roupinha dele, tinha o tecido macio e estava limpa, bem limpa, com um ursinho branco desenhado na frente. Deixou a roupinha do bebê sobre a cama e abriu outra gaveta, de onde tirou uma saia azul marinho e uma camisa de seda preta. Havia comprado tanto a saia quanto a camisa para a última festa de São Bernardo e deixou-as também sobre a cama, ao lado da roupinha rosa do bebê, sem pensar se a combinação lhe ficaria bem ou sem pensar se ficaria bonita, apenas deixou lá e dirigiu-se ao corredor, caminhando em direção ao banheiro. No meio do caminho, observou o marido dormindo no quartinho, seria preciso esperar que acordasse. Pedir permissão para levar o bebê ao hospital, estava precisando, os panos não davam conta, rezou bastante e Deus ajudaria, Deus sempre ajuda, mas era melhor ir ao hospital. Porém, não foi isso que fez. O que fez foi andar na ponta dos pés, até o banheiro andou na ponta dos pés. Tirou a blusa, abriu a torneira, ensaboou as mãos com sabonete, lavou as axilas, fez mais espuma com o sabonete, lavou o rosto também e retornou ao quarto. “Adesso”, disse ao bebê. “Adesso”, repetiu bem baixinho para o bebê e fez o sinal da cruz. Àquela altura, tudo que pedia era para o bebê. Já se aproximava da meia hora. O ônibus não tinha hora pra passar. Havia dias também em que não passava. Mas era sabido que passava à meia. Por isso, sempre que queria ir à cidade, era à meia hora que deveria estar na estrada esperando, fizesse chuva ou fizesse sol. Saiu na ponta dos pés, com o bebê no colo, ele dava umas tremidas de vez em quando, mesmo no colo, e estava quente, muito quente o bebê e no sol devia fazer mais calor ainda, por isso saiu num ritmo entre o apressado e o cauteloso, na ponta dos pés, sem olhar para o quartinho e verificar se o marido de fato dormia ou se, por uma sorte nada boa, a estivesse vendo sair, com roupa de festa e o bebê no colo. A estrada era de terra e, no verão, bastava um dia sem chuva para a poeira se levantar com qualquer lufada de vento. Não dava pra saber se o pior era aguentar o sol à pino sem uma lufada de vento ou se o pior era comer poeira sempre que vinha uma lufada de vento. Ela tentava escutar para além da colina. Vez por outra, pensava ouvir um barulho de motor. Mas se tivesse escutado qualquer coisa, logo o ônibus chegaria. Por isso, entre tentativas de ouvir o ronco do motor do ônibus, com o canto do olho, vigiava a porta de casa. A qualquer momento o marido acordaria, sairia pela porta e sentaria na escada de basalto que era o local mais fresco da casa àquela hora, esperando que ela se aproximasse com o chimarrão. Torcia apenas para que o ônibus chegasse antes do marido acordar. Já não havia tempo para rezar. Apenas torcia para que o ônibus chegasse antes do marido acordar. Como seria bom ter um relógio, pensou.
Cobria a pequena cabeça do bebê com o xale para que ele não tomasse nem um pingo de sol “Senza sole”, exclamou e balançou o bebê no colo, no movimento de nanar involuntário que as mães fazem, quando viu um reflexo vindo de casa, um raio, a porta da cozinha se movendo e apanhando um raio perdido de sol que refletia no vidro da porta e avisava que algum movimento acontecia na casa. Balançou o bebê mais rápido, como se o balanço o curasse e fizesse a cura progredir com mais intensidade. Ao mesmo tempo que lançava o quadril de um lado a outro, apurava o ouvido, a qualquer momento ouviria o barulho do ônibus, era um barulho forte, de ônibus pesado, conhecia aquele barulho há pelo menos dez anos. E cada vez que passava fazia barulho mais forte e soltava fumaça mais preta. Logo ouviria o ronco, tinha certeza e iria para o hospital e tudo ficaria bem, lá tem um bom médico. Ao mesmo tempo, observava a frente da casa, em breve o marido sairia, sentaria na escada, era o lugar mais fresco da casa, ele gostava de sentar lá para tomar chimarrão antes de ir para a roça, estava seco o milho, estava com espigas pequenas, precisando de água, o marido ficava mais nervoso quando as espigas não cresciam como deveriam. Ela olhava, esperava ele sair. Esperava que o ônibus chegasse antes dele sair. Se tivesse um relógio ia saber as horas. Quando passa muito da meia é sinal que o ônibus não vem, embora tinha vezes que ele passava quinze pra uma, teve uma vez até que passou uma e meia, mas aí ficaria tarde e talvez já não desse tempo de pegar ficha no hospital.
“Porca miséria”, disse. E deu as costas para a casa. Como se o fato de não enxergar o marido fizesse com que ele não a percebesse na estrada. Como se não vendo o marido, não sofresse por antecipação. Virou-se, deu as costas para a casa. Não o viu sair pela porta e sentar na escada, ele gostava de receber o chimarrão no lugar mais fresco da casa. Mas ela não fizera o chimarrão e também não estava lá para ouvir “El chimarrón”, uma “El chimarrón” duas “El chimarrón”, três vezes. Ela não estava lá para ouvir e, antes que o marido olhasse para fora, o marido entrou, talvez percorrendo os cômodos da casa, talvez imaginando que ela pudesse estar no quarto cuidando do bebê, na horta colhendo malva pro chá. Mas não. Em parte alguma estava porque ela estava na estrada tentando mandar o ouvido pra longe, para além da colina, para além do morro, tentando mandar o ouvido lá pra comunidade de Santa Cruz, pra comunidade de São Pedro, lá pra cidade, que é de onde o ônibus saía, mas tudo que ela ouviu veio de perto, muito perto, mais de perto que a poeira que arranhava sua garganta, veio roçando o ouvido que ela tentava mandar para longe e era uma voz que ela conhecia bem, muito bem e que nada dizia de novo “Fai que qua” e que não era uma voz que perguntava o que ela fazia lá, embora as palavras isso significassem. Era uma voz que a mandava pra casa, que dizia o quanto ela não sabia cuidar de um bebê, que provavelmente no caminho de volta a mandasse à horta, catar malva, catar macela, catar folha de laranjeira e tudo mais que a mãe do marido catava e usava quando algum dos filhos ficava doente, foi assim que a mãe do marido criou treze e todos estavam grandes e adultos e com saúde, diferente dela, deixara morrer dois, imaginava a voz dizer tudo aquilo de novo e agora tudo que queria era ir à cidade, mais do que qualquer coisa queria ir ao médico, pegar uma receita de remédio, era pelo bebê que queria aquilo e continuava querendo enquanto ouvia “Fai que qua, que fai?” e ouvia calada, era uma voz alta, um grito que ela ouvia enquanto tentava tapar uma nesga de sol, uma nesga comprida e fina com o formato de uma navalha que, distraidamente, atingia o rosto semiadormecido do bebê.
Emir Rossoni é agricultor e mestre em Escrita Criativa. É autor de Domanda Nísio, livro vencedor do Prêmio Governo de Minas Gerais de Literatura, e de Caixa de guardar vontades, livro vencedor do Prêmio Açorianos de Literatura e do Prêmio Guarulhos de Literatura de Livro do Ano, além de finalista do Prêmio Ages e do Prêmio Minuano. Desde 2016 ministra oficinas literárias na cidade de Porto Alegre.