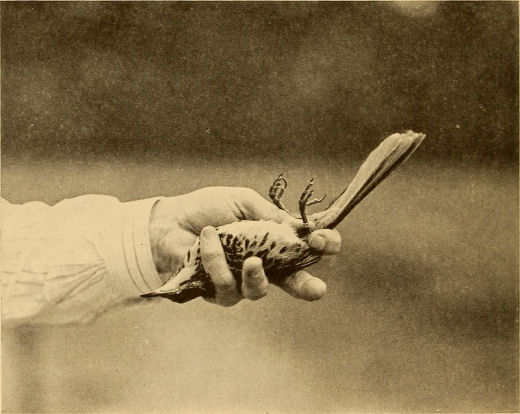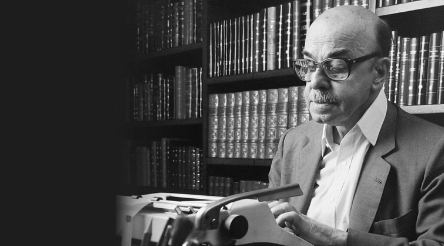O Laocoonte no salão
Das pausas discretas da dor, venho ajustar o fio de prumo. Me preparo para pôr uma mesa como quem constrói uma pirâmide no deserto.
É dia da estrela do solo, mas não se cumpriu a Saturnália. Houve uma festa, e eu descobri tarde demais que levava a etiqueta na camisa: “Brechó Garçon Classique”, dizia.
Não importa, olhando a dança de soslaio, que eu não me lembre direito da sensação do afago. Ele virá, nunca oportunamente, mas como item de necessidade e a crédito.
Amor deveria ser cabeça d’água, torrente contra formação geológica. Quantas escamas prateadas despontam ao sol quando os peixes se chocam contra as pedras…
Lembro disso quando lido com o fogo, suas invasões discretas ao longo de um dia.
Queima-se um dedo com o cigarro. A vista se fere sob o sol. Paramos de pedir coisas diante das velas.
Não importa.
Perdi um dos botões do velho casaco azul-ferrete – enquanto varria o salão.
Quantas vezes me perguntei hoje se deixei ou não o ferro de passar ligado. Quantas vezes dei de ombros.
Será que o amanhã é correnteza de arroio contra o conjunto escultórico do hoje? É que eu quero destruir o meu Laocoonte.
A vida é assim, houve uma festa. Em um momento dançamos, não vemos o tempo passar. Os convidados vão embora. De repente, estamos empilhando as cadeiras.
§
Suas Músicas Estão com Saudade
Dobrei a esquina com uma sacolinha de mercado.
Dentro, alguns maços de cigarro, uma irônica paçoca Amor e um frasco de shampoo Darling.
Não demorou para que eu não reconhecesse o meu pequeno fardo.
Sequer me lembro das ilhas do mercado, da farmácia, do balcão da distribuidora de bebidas.
A luz do real me desvia, ela destoa de mim.
Cada gesto é autômato, estou desprovido de paixão pelo mundo, como qualquer pessoa.
A altitude de Cusco na cabeça, estando no cerrado.
Fones de ouvido agora tocando:
Suas Músicas Estão com Saudade
Boné, protetor solar, transe, curto-circuito, delírios múltiplos, telecinese.
A paisagem está toda possuída por um demônio asséptico.
Quero a divindade imunda, sem dentes.
Quero as tiranias assumidas.
Ao menos isto: palimpsesto nas coisas, nas fachadas.
Que a cidade fosse toda uma grande cicatriz.
E eu decreto que a cidade não deveria suportar os dias em claro, o branco excessivo, o azul de náusea.
Ela se vestiria de alguma cor telúrica, prenúncio de chuva.
A minha própria previsão do tempo me diz: não espera outubro. Vou chover dentro de três dias e estou no aguardo.
§
Café Anti-onírico
Eu queria uma imagem: Maria Taglioni em noite estrelada dançando sobre pele de pantera estendida no gelo. O amor a que se aspira é tão voraz quanto esse tipo de beleza, e tão fugidio quanto. Nenhum surrealismo agora. Os finais de tarde podem nos roubar de nós mesmos, no entanto. Qualquer descuido mínimo, uma contemplação mais longa, um pensamento soprado na esquina. Essas coisas com potencial sísmico que jamais se cumpre. Dentre elas, me intriga mais a pergunta que se vai fazer e que desaparece antes de ser feita: suficiente para causar a interrupção de qualquer certeza. Sobretudo quando os pontos de interrogação querem fazer volitar as toalhas xadrez bem na hora do crepúsculo, e não conseguem.
Num dos cafés mais anti-oníricos do mundo, tudo estava contido. Menos o som. Tocava Ludovico Einaudi, um único indício de submissão do espaço a alguma coisa trêmula, levemente brilhante. Dos dois homens, um parecia mais distante, incomodado com a inquietude das cores lá fora. Chamaremos este de O Mais Velho, apenas porque de tempos em tempos se insinuava em todo o seu semblante uma comoção imprópria ao tempo corrente. O Mais Velho, então, buscava uma confirmação de despedida, mas era cedo demais. Através da parede de vidro, ele olhava a rua, ou ao menos parecia olhar. A sua quietude falsa podia ser um esforço de telecinese. Se assim o fosse, era ele quem empurrava uma sacola ao longo do meio-fio, e cada palavra por dizer a inflava. Talvez ele fingisse observar os passantes. A cidade não era bonita, nem feia, e seus tons de cinza iam tingindo as fisionomias, quanto mais se avançava pelas calçadas. A vegetação explodia em tufos pelas rachaduras, e uma luz filtrada pelo desencanto cobria o mundo. Era perto do Natal e eles estavam, os dois, quebrados. Pediram o café coado, da casa.
O Mais Velho queria um pretexto para esconder o rosto e se concentrar em atividade paranormal. Mas, o cardápio era muito baixo, e tão estreito. Em algum momento, distraiu-se genuinamente, tendo lido algo que lhe tocou na placa de um ateliê de costura. O português graciosamente errado indicava imagens de devaneio: “Aqui fazemos pequenos concertos”. Maria Taglione se refletia rapidamente nas janelas dos carros, para desaparecer na impossibilidade. No entanto, Ludovico ainda reinava, reverberando numa colherzinha acobreada. A seguir, não disseram muito, ainda que o Mais Novo – e o chamaremos assim porque ele não seria, por enquanto, hábil em esconder nada por trás dos olhos – houvesse tentado. Ele era uma pessoa acostumada a atirar coisas imaginárias de grandes alturas, e, sem o saber, algo de derradeiro e de difícil constituição também o transformava. A luz se esvaía.
O Mais Velho já tinha se entregado, enviesara-se para o exílio íntimo. As pessoas estão comprando presentes, e, no entanto, a esperança foi fustigada à carnação, foi o que ele não disse. Sozinho, fez planos fantasiosos para o verão. Iria viajar para algum lugar remoto, uma ilha dentro de uma ilha dentro de uma ilha, e a cada travessia se perder mais um pouco. No ponto de chegada, seria algo mais que um metro e oitenta de tecido. Alguma fazenda translúcida, quase rósea, quase lembrando um sudário.
O café vai fechar logo logo, anunciou o Mais Novo, finalmente desistente, finalmente remoto. Assim, diante do tédio, o Mais Velho pôde levantar o rosto e procurar a saída. É que nele as intenções sempre se adiantavam ao corpo. Meu Deus, o Mais Novo, que se movia apenas por coisas como desejo e fome, atrelado às naturezas imediatas, também sabia que ninguém ali seria mais o mesmo. Coisas desgarradas da felicidade se anunciavam no horizonte róseo, sem, no entanto, se constituírem em sina triste, porque em ambos tudo era, finalmente, consentimento.
Caiu a noite. Desceram a rua até a evasão mútua, um para um lado, outro na direção oposta. O Mais Novo cantarolando a melodia do Einaudi, que ele desconhecia, o Mais Velho fugindo dela, e se perguntando qual era o melhor caminho para se perder no caminho de casa. A cidade gemia em riscos de luzes e silhuetas apressadas, sem se importar com nada.
Léo Tavares é escritor e artista visual. Nascido em São Gabriel/RS. Vive em Brasília/DF. Pesquisa as relações entre artes visuais e literatura. É autor dos livros Situações (LTG Press, 2023), O Congresso da Melancolia (Urutau, 2021), Ruibarbo do deserto (Patuá, 2019) e Os doentes em torno da caixa de Mesmer (Modelo de Nuvem, 2014).