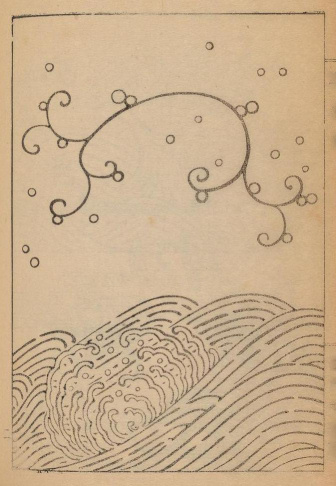Gustavo Lamounier
Belo Horizonte – MG
No início deste ano, recebi de Mar Becker um exemplar de seu terceiro livro, Canção Derruída, lançado em 2023 pela Assírio & Alvim para o mercado português. Fiel à sua vocação para a polifonia, Mar não se limitou a reproduzir nele o que já havia escrito em seus volumes anteriores. Em Canção Derruída, ela inclui os poemas de seu segundo livro, Sal, e um conjunto de ecos e variações sobre os versos de seu primeiro livro, A Mulher Submersa. Por isso, é impossível falar de Canção Derruída sem falar também de seus antecessores. Acredito que isso valha para todas as suas obras. Cada livro seu é uma continuação do anterior, uma parte de uma mesma monodia – solitária, agreste, conquanto, paradoxalmente, polifônica (ela mesma o diz: a voz suspensa//as muitas vozes). De forma que, ao falar desse livro, não posso falar apenas de um livro – devo falar de sua poesia, como um todo. Ao receber o exemplar, prometi a ela que escreveria algo a respeito. Ao longo do ano, vários fatores atrasaram a minha leitura. E um fator específico atrasou a minha escrita: a imensa dificuldade de falar sobre sua poesia. Para ela, todas as palavras são insuficientes.
Falar sobre a poesia da Mar é das tarefas mais árduas que já assumi. Seus versos sempre despertaram em mim uma ânsia indefinida pelas palavras – que, quanto mais forte, parece, mais me torna incapaz de encontrá-las. Essa reação, penso, responde à natureza mesma de sua poética. Uma poética que confina com o silêncio, com o indizível. Mar Becker é daquelas poetas que vai moldando com as palavras aquilo que nelas permanece não dito.
tatear tudo à beira, costear a comarca dessa febre: assim levo a mudez nas mãos, recolhida em si – como lugar onde adoece a foz dos gerânios
Ou ainda…
amar um livro pelo que ele guarda de ilegível
amar uma palavra pelo que nela se apaga
Já pensei em sua poesia como uma escultura invisível: pode-se tateá-la, mas não vê-la. Tocar é véspera ainda mais antiga que dizer – diz um de seus poemas. Em seus versos, pulsa um temor reverencial pelas palavras – um medo e um maravilhamento de dizê-las. Elas carregam a força teofânica de um mundo arcaico, repleto de encantamentos e terrores. Por isso, toda palavra dita soa como oração. A oração é a encarnação suprema dessa linguagem sussurrada, temerosa – temerosa não por timidez da poeta, mas por sua consciência aguda de que cada palavra dirigida aos deuses encerra um poder imenso, destruidor.
em mim escrever vai-se a rumo de um perigo: ser conduzida pelo sussurro
A palavra surge arrancada de um silêncio sagrado. O silêncio é a língua de Babel, o gesto primordial de um mundo onde o entendimento era perfeito. Neste mundo decaído, porém, esse silêncio perfeito só pode ser recuperado em momentos sagrados – no amor, por exemplo, onde nada precisa ser dito/tudo se pressente/se adivinha – ou na insuficiência de uma palavra em ruínas. Eis sua poesia: um canto sem música, partitura de palavras nuas.
Eu não poderia falar de sua escrita sem canibalizar a sua linguagem, fazê-la um pouco minha. Por isso, já peço perdão ao leitor (sei que a autora não se importará) pela extraordinária audácia de citar aqui uns versos meus. Isso porque os escrevi sob o influxo da poesia de Mar, quase como se a comentasse, ou deglutisse, ou qualquer coisa desse gênero.
Aqui deixo minhas palavras.
Cosi ao vento – eram tênues,
magras…
Anoto-as como ao errar
dos pampas: um
cancioneiro de retalhos.
“Cancioneiro de retalhos” é a expressão que me surgiu mais espontânea para descrever a sua poesia. O seu temor reverencial pela palavra termina num retalhamento da linguagem. É irregular, disforme. Não tem metro fixo. Confunde o verso com a prosa, a linguagem elevada com a linguagem chã. É repleta de enjambements – súbitos, assombrosos… E, ainda assim, dotada de uma inconfundível delicadeza, um apuro imenso de tecelã. Sua voz, tão pura, é ao mesmo tempo uma voz ferida pela aspereza de existir em um mundo sem redenção –
porque numa mulher ferida mesmo o sussurro tem a força de um grito
Sua oração mesma não clama por salvação. Seu mundo é um mundo pagão, onde o físico e o espiritual ainda não se separaram. Seu sagrado vive nesta terra. Por isso, está marcado pelas feridas deste mundo: pela morte, pela dor, pela impureza. O sagrado sobrevive em meio à monstruosidade da terra, à decomposição das coisas, à instabilidade da memória. Seu Deus, que sente medo das mulheres com dedos tortos, deformados pela artrose, é um deus que ainda não se exilou nos céus. Essa religiosidade trágica acompanha toda a sua poesia e enche de chagas a sua linguagem.
praticar na escritura mesma essa intimidade que dói, que se mistura com os corpos e só se permite dizer com um vocabulário em estado de desamparo
Aqui, a morte e a vida não são opostos, mas partes complementares de uma só ordem. Por isso, a imagem da água tem tanta centralidade, sobretudo em seu primeiro livro, A Mulher Submersa. A água é aquele elemento que encerra em si a vida e a morte, juntamente: é nascimento, fertilidade, origem – e é também afogamento, dilúvio, apodrecimento. Quando Yahweh afoga o mundo no Dilúvio, está fazendo com que este retorne às suas origens, quando as águas ainda não se haviam separado, quando o céu e o mar eram um só. Morrer é retornar àquilo que precede o nascimento: do pó vieste, ao pó voltarás.
sonhar também — com o tempo em que eu e o mar ainda éramos um mesmo projeto, e só o rumor habitava as pias batismais
Seus versos estão carregados da nostalgia por esse tempo de origens. Os mares primordiais são a potência originária de onde nascem todas as coisas – também as palavras. Alguns de seus versos me evocam as filosofias arcaicas de Tales e Heráclito:
primeiro vem a água como sangue. antes do corpo, a correnteza
puro ato
A origem e o fim, o antes do nascimento e o depois da morte compartilham uma secreta coincidência. Na poesia de Mar, isso se manifesta na irmandade entre a infância e a velhice. As crianças e os velhos estão próximos da origem – de certo modo, próximos da morte. Por isso, estranham o mundo. E o estranhamento é a palavra-chave de toda a poética de Mar.
talvez fôssemos duas crianças velhas, eu e minha irmã. meninas ainda, mas que camuflavam senhoras de idade
Esse mundo onde tudo nasce e morre e se decompõe é um mundo onde a própria voz está em ruínas.
uma canção derruída: esta é toda a notícia que há do fogo
A ruína é produto de um mundo trágico onde tudo está sujeito ao tempo e à morte. A ruína é o que resta daquilo que já foi vivo, é a janela para um mistério incognoscível. Poderia dizer que a poesia de Mar é uma poesia que olha para trás – para o passado – em um tempo, como o nosso, tão obcecado com o futuro, tão ansioso por libertar-se do passado. O olhar para trás é um gesto constantemente repetido em seus versos.
olhar para trás –
teu rosto ido
as retinas enquanto ainda queimam
(antes que eu seja pedra
estátua de sal
mulher de lot)
.
amar é voltar-se a uma cidade incendiada
Em contrapartida, creio que a poesia de Mar é também, em certo sentido, uma poesia que olha para a frente. Aqui, não penso no universo da cultura ocidental, mas no da cultura andina. No mundo andino, olhar para frente é olhar para o passado. Toda a materialidade do presente – aquilo que está diante dos olhos – é um produto do passado, e carrega em si as suas marcas. O futuro, imaterial, incognoscível, está às nossas costas. O fluxo do tempo não é um andar para frente, mas um andar de costas. É algo carregado de perigo, que não se pode ver. Penso que a poesia de Mar encarna essa visão de coisas, tão mais concreta, a meu ver. Ou, dizendo melhor, mistura-as ambas, de alguma forma. Olha para o passado – isto é: olha para trás, olha para frente… Olha para trás, porque o atrás é precisamente aquilo que está à frente. O presente surge do passado – assim como a vida surge da morte, ou a palavra surge do silêncio. Ao contemplar sua mãe através de um tecido transparente, ela pode dizer:
mãe viva vinda de dentro de mãe morta
Por isso, o mundo de sua poesia é um mundo onde o futuro não existe, senão como premonição oracular. Os historiadores olham para o passado buscando nele as raízes do presente, mas Mar busca realizar o projeto de Huizinga de contar uma história daquilo que morreu, uma história do fim das linhagens. O passado, contudo, tampouco é coisa nítida. Ele vai se distanciando de nossa visão. Ele sobrevive apenas em suas ruínas: na matéria do presente, na memória – tão enganosa, tão cheia de artimanhas. Por isso, o mundo é água, como já intuía Heráclito. A poesia de Mar, portanto, é uma poesia daquilo que é deixado para trás, daquilo que é material e disforme, daquilo que está derruído, afogado, petrificado, esquecido. Até a sua escritura é ruína – de uma voz esvaecida.
sou toda derruição de ti, descarnado mar
Sinal notável disso é o lugar que têm os objetos em sua poesia. Os objetos estão por toda parte. Objetos largados, sujos, quebrados. No mais das vezes, objetos triviais, nos quais um olhar menos atento poderia não ver mais do que uma familiaridade insossa. No olhar de Mar, porém, esses objetos são vestígio e escombro de todo um mundo de amor, de memória e de perda. Eles carregam em si a aura das relíquias. As relíquias (reliquiae, em latim, significa “restos”: da mesma raiz do verbo relinquo, “abandonar; deixar para trás”) são outra modalidade da ruína. Como estas, estão marcadas pelas ranhuras e pelas imperfeições do tempo, da dor, da vivência – são um sopro de vida em nosso mundo tão dominado pela assepsia do digital.
em toda casa há pertences (ou digamos ruínas de pertences) que nos abrem a possibilidade de compor saudades descarnadas, e talvez esteja aí o primeiro aprendizado do amor. (…) tenho zelo por esses objetos
As relíquias são a concretude da memória, aquilo que a ancora na realidade. Há uma ânsia por essas ruínas, pois elas permitem a sobrevivência. A lembrança.
falta-me em mãos algo de desolador
uma relíquia qualquer da tua tristeza
um ramo dos teus cabelos
um lenço
A própria poeta, a certa altura, descreve seu projeto como o de uma poética do resto. Os objetos são como os fósseis, resquício petrificado de uma vida antiga. A petrificação tem lugar de destaque na poesia de Mar, sobretudo em Sal. A mulher de Lot olha para trás, para a Sodoma em chamas, e subitamente se transforma em estátua de sal. Parece haver existido um pilar de sal às margens do Jordão, que serviu de inspiração para o mito. A mim, impossível não recordar as ruínas de Pompeia, também petrificadas pelo fogo. Como toda morte, essa petrificação é também uma ameaça. Em certo momento, olhando para as manequins abandonadas na casa, a poeta comenta que
talvez já tivessem sido outra coisa, gente como nós, mulheres. poderiam ter sido mulheres de carne e osso, vivas, numa casa viva igual à nossa
Sua própria escrita é petrificação. A palavra escrita: vestígio endurecido da palavra falada. Seu trabalho com a linguagem me recorda Graciliano, quando dizia que quem se mete a escrever deve torcer as palavras como as lavadeiras de Alagoas faziam ao secar as suas roupas. Mas a linguagem de Graciliano era a linguagem mundana dos prosadores, enquanto que a de Mar é a linguagem oracular dos poetas. A secura de sua voz me lembra a sublimidade aterradora da Bíblia hebraica. O nome de Deus – impronunciável.
Em Sal, essa secura é ainda mais marcada que em seu primeiro livro. A vida – a água – é coisa quase esquecida. O que fica é a aridez do sal – aquilo que sobrevive quando a morte por afogamento é coisa já antiga. Villa Epecuén simboliza essa poética, pois é ruína do afogamento. A mim, a poesia de Sal evoca com frequência a imagem dos salares andinos, conquanto estes sejam poucas vezes citados. Em muitas partes da Terra, muito distantes do mar, existem grandes reservas de sal, de que os desertos e minas de sal dos Andes são talvez o maior exemplo. Eles são os resquícios de antigos mares milenares, de uma espécie de Dilúvio (alguns historiadores e arqueólogos acreditam que os resquícios marinhos encontrados nas montanhas tenham sido uma das inspirações para os mitos do Dilúvio). Em Sal, a poeta parece se perguntar: o que resta do mundo antigo quando as águas do Dilúvio finalmente baixaram? O que viu Noé quando desceu da arca? A terra, não renascida, mas ressuscitada, seu corpo ainda ferido pelas tempestades. Nas poças d’água, o arco-íris, tênue promessa de uma nova aliança… Gosto de pensar que essa luz lúgubre, obscura – a luz do amanhecer em que Noé e seus filhos pisaram finalmente em terra – gosto de pensar que essa é a luz que ilumina a poesia de Mar Becker. Gosto de imaginar um Noé assombrado, pelo resto de seus dias, pelas ruínas daquele mundo desaparecido nas águas – um Noé que se sente para sempre desterrado da terra antiga, e que vê em cada rocha os vestígios de um país afogado. Assim como Mar. Exceto que, nela, a nova aliança não é coisa tão certa, tão revelada quanto foi para Noé. Ela é a mais frágil das pontes. E o Dilúvio está sempre na iminência de se repetir. Por isso, seu mundo é um mundo de vertigens. Um mundo que se equilibra à beira do abismo.
Esse mundo de secura é também um mundo de cegueira. A cegueira, para Mar, é uma forma de revelação: ela permite conhecer o silêncio, o invisível; ela permite descobrir novamente o que a visão tornou banal. Ela diz: educar os olhos. cegá-los. Entre os antigos gregos, Homero era tradicionalmente visualizado como um cego. Só aquele que não vê, pareciam imaginar os gregos, pode ver o que ninguém mais vê. A cegueira, assim, é ferramenta de estranhamento – uma forma de destruir a ilusão do familiar, de sentir com renovada delicadeza as forças obscuras que rondam a nossa realidade de todos os dias. Em cada detalhe trivial, a poeta anseia por descobrir um estranhamento, uma epifania. José Francisco Botelho comentou que o seu olhar é um olhar “evânico”. Um olhar que descobre o mundo pela primeira vez, com olhos outros daqueles de Adão.
morar é questão de se tornar uma mulher cega entre outras mulheres cegas, e com elas ir tateando o ar
Disse que a voz de sua poesia é oracular. Os oráculos, no mundo grego, não são meros adivinhos do futuro. São aqueles que veem τά τ’ ἐόντα τά τ’ ἐσσόμενα πρό τ΄ ἐόντα: “o que é e o que será e o que era antes”. Experimentam a realidade como teofania. Como mistério. Nas suas palavras enigmáticas, tudo se torna, uma vez mais, pouco familiar. Volta às suas raízes no inefável. O aspecto oracular da poesia de Mar se deixa ver no misterioso de sua linguagem, sobretudo naqueles momentos em que ela se solidifica num enigma de pedra – nalgum dizer sentencioso que se pudesse imaginar inscrito nas ossadas de Delfos. Deixa-se ver na força com que a temporalidade aparece em sua poesia, carregando consigo o mistério do ser e da morte. Deixa-se ver nas premonições.
gosto quando, eu deitada na cama, de bruços
e tu então vens, inclinado
e me olhas
gosto porque teu olhar se demora, e é como se
quisesses ler os sinais
as pintas
as marcas de nascença
tu, que não te curvas a ninguém
nessa hora tu és homem inteiro curvado sobre meu corpo
respirando comigo
dizendo que em outros tempos em minhas costas um adivinho teria previsto um dia de fim
uma cidade tomada
A mim, fascinado pelo antigo mundo helênico, a poesia de Mar evoca, com enorme intensidade, o universo do oikos grego. Entre os gregos, a prática religiosa se organizava em dois eixos principais: a pólis – o espaço público; e o oikos – o espaço doméstico. A religiosidade pública acontecia na cidade, esse espaço habitado acima de tudo pelos homens. Voltava-se sobretudo para o mundo luminoso dos deuses olímpicos. Mundo público, mundo solar. A religião doméstica, por outro lado, confinava mais intimamente com o domínio noturno, ctônico, das divindades da terra e dos espíritos ancestrais. Estava também mais próxima do feminino. O homem grego podia ser, nominalmente, o chefe da casa. Mas ele parecia intuir que não dominava realmente aquele espaço. Quem habitava aquele território, quem o encarnava, quem se deixava adoecer nele eram as mulheres. Na poesia de Mar, as mulheres adoecem por ficar tempo demais dentro de casa – e, nisso, vão se misturando aos objetos, consubstanciando-se neles.
as donas de casa vêm todas de uma história de infância muito parecida. salvo alguma exceção, foram crianças que ficavam pelos cantos, discretas; quase invisíveis
confundindo-se com tudo
diria que as donas de casa descendem de camaleões
(…)
não raramente sonham que seus corpos mimetizam os objetos e as cenas da casa, que suas vozes se misturam com outras vozes dos demais membros da família
misturam-se até mesmo com ruídos, como a rouquidão do ralo depois da louça lavada, depois que um intenso fluxo de água desce pela pia.
E, em outra parte, diz:
devoramo-nos mútuas, eu e a casa.
(…)
somos consanguíneas, eu e a casa.
O domínio dos ancestrais, das divindades ctônicas, dos oráculos, da magia aparece, na antiga cultura grega, muito associado ao feminino. Trata-se de um terreno no qual o varão sente-se constantemente ameaçado, num medo de devoramento, conhecendo no fundo que as armas da estratégia e da retórica não funcionam ali. Assim, o unheimlich aparece enraizado, paradoxalmente, no próprio espaço familiar, frequentemente associado às forças obscuras do inconsciente feminino. As Górgonas, as Erínias, as Moiras – todas elas aparecem ligadas, de alguma forma, a esse universo liminar, arcaico, onde o poder patriarcal ameaça desabar sob forças mais antigas, de um mundo matriarcal cujas origens remontam à foice que Gaia entregou a Cronos, para que emasculasse Urano.
Esse mundo arcaico do oikos é o mundo onde habita a poesia de Mar. Nele, uma guerra muda se conduz, sem estandartes nem triunfos. Um conflito de silêncios e de corpos, travado na intimidade sombria dos lares – repleto de ameaças invisíveis, assassínios que poderiam ser e ainda não foram. Nele, não só os vivos têm parte, como também, e sobretudo, os mortos (e como poderia ser diferente, nesse mundo noturno, ctônico?). Eles também deixam as suas relíquias…
os vivos morrem logo
são os mortos que morrem devagar
são os mortos que seguem morrendo depois que os velamos, que os enterramos
passam-se dias, e ainda há fios de cabelo espalhados pela casa
passam-se meses, e ainda vemos o livro
o marcador guardando o fogo da última palavra lida
passam-se anos, e descobrimos na gaveta as palavras escritas, os papéis
(…)
sempre acabamos encontrando nossos mortos por aí
eles acham um jeito de voltar
de permanecer
Aqui, mais uma vez, a poesia de Mar olha para o passado, visualizando no mundo presente um escombro da memória. A memória ronda esse espaço, marca cada uma de suas paredes com a sua presença. Os mortos vagueiam durante a noite. Nesse universo tão frágil, todo o compromisso com a existência está em não esquecer.
ter sempre em mente que havia entre nós uma mulher
que foi morta
uma mulher que foi calada
Em um dos poemas de A Mulher Submersa – aquele de sua obra que mais se aproxima de um manifesto – ela repete muitas vezes esse compromisso:
eu não posso me esquecer de mim nas tantas mulheres que fui
não posso esquecer eva
não posso esquecer agar atravessando o deserto com ismael no colo
(…)
não esquecerei joana, queimada em praça pública
(…)
não devo esquecer quantos litros de sangue uma mulher deve perder
para que cesse o pulso
e assim sem pulso possa finalmente ser considerada santa pela nossa santa igreja
(…)
não posso esquecer as últimas horas de eloá
o carro em que marielle estava na noite de 14 de março de 2018
(…)
não esquecerei micheliny, filha da filha da índia que foi pega no laço, como um animal
não esquecei nina, que não esquecerá bruna
ambas se erguendo juntas da mesma noite
não esquecerei bárbara, o olho roxo, a costela trincada
não esquecerei minha irmã
minha mãe
minha avó, morta com um tiro no peito
Há uma espécie de política na poesia de Mar, mas não é a política tal como a entendemos normalmente, isto é, a política pública, a política da pólis. Nada, de fato, mais distante de sua poesia do que a politização exacerbada e barulhenta que hoje vemos avançar por todas as partes. Não. É uma política do oikos, uma política mais antiga do que a política. Em certo sentido, uma não-política. Porque numa mulher ferida mesmo o sussurro tem a força de um grito. As palavras-chave dessa política são paradoxais: amor e ódio; grito e sussurro; cumplicidade e traição… Uma cumplicidade insidiosa, de fato, imiscui-se em todas as partes desse seu mundo doméstico, faz-se também um instrumento de luta: a irmandade atávica das mulheres, o combate amoroso (aquilo que Jacques Brel chamou de la tendre guerre) entre um homem e uma mulher ou entre uma mulher e outra.
por isso se comunicam clandestinamente umas com as outras, e a impressão que se tem é a de que são cúmplices de um crime
de que juntas estão escondendo na casa
um corpo
um nome
E, nessa cumplicidade, a ameaça do segredo, do secreto, da traição. Há todo um submundo por baixo dessa casa onde se habita e se dorme.
na casa, outra casa é mantida, muda. em ruínas
Uma feminidade noturna, monstruosa domina as veredas desse espaço doméstico, e é reivindicada como uma dimensão essencial dessa existência ferida, parte intrínseca desse universo da casa e do amor. Nesse sentido, mais uma vez, sua poesia é uma poesia pagã. Ela não aceita as dicotomias simplistas entre o celestial e o demoníaco. Também por isso, nesse seu mundo, nada parece assegurado. Uma instabilidade secreta o corrói. A casa aqui não é lugar de segurança. Ela é rodeada de perigos: fantasmas, facas e terrores habitam as suas sombras. A familiaridade da casa é enganosa. É mesmo a sua grande armadilha. Porque, no fundo, ela é o não familiar, o secreto. Se é um refúgio, é o mais frágil, o mais delicado dos refúgios.
O oikos, de resto, é um espaço fincado no coração da natureza. Mas a natureza aqui não é mero idílio. A natureza é, ela também, uma mãe monstruosa, que não hesita em devorar ou deixar morrer os próprios filhos. Daí a sua serra sem fim, onde tudo é cadáver, vindima e fome.
por vezes uma pássara prenha entra num dos vãos do beiral do telhado. constrói ninhos, se instala, põe ovos. em fevereiro e março, no período das chuvas mais intensas, é comum que um filhote caia — recém-nascido, roxo; sem penas, só cabeça e bico
nem chega a ser percebido dia seguinte, esse serzinho. no chão, confunde-se com as cascas de uva comida e é varrido junto, termina amontoado no canto num mesmo entulho. quem vê os tons de púrpura e podrume assim mesclados compreende que a serra se ergue inteira
num ímpeto de tinturaria
A natureza é ao mesmo tempo dispensadora de bênçãos e de maldições. De vida e de morte. Viver na natureza é viver entre as feras e as tempestades. Entre as coisas disformes.
aquela que tem sede vai seguida de um cortejo, e não se vê que animais a cercam, que matilha se eriça
Disse que seu mundo é um mundo à beira do abismo. Poderia dizer também que é um mundo à beira da catástrofe. Um mundo de penúria. Onde os frutos são miúdos, quase não vingam, onde a garoa de muitos dias é premonição do Dilúvio.
(no limite, passávamos a sentir medo de que a primavera não fosse vingar a tempo. antes disso, a água avançaria, desceria às raízes, apodreceria boa parte dos bulbos. se chegasse a irromper, e chegaria, seria outra primavera, erguida magra, aleijada)
O lugar da natureza na poesia de Mar explica também a sua relação com os objetos, com os restos. Com o húmus, poderia dizer. São todos eles parte de uma mesma irmandade com os elementos.
estou recolhida há semanas. crisálida, noviciada. sinto que agora posso cantar a vida das coisas inorgânicas, longas. o sono das pedras, intacto; as árvores retorcidas
Daí a alma pagã de seus versos, que veem na terra, a um só tempo, a promessa do recomeço e a ameaça do fim.
Aqui, vale comentar ainda sobre outro elemento fundamental em sua poesia: a disformidade. O disforme é aquilo que sugere à psique humana a ideia da monstruosidade. Assim como abraçam a fragilidade e o perigo, seus versos abraçam a disformidade – encontram nela a mesma beleza ameaçadora e escura que ronda todo o seu mundo. Sobretudo naquelas coisas ligadas ao universo feminino. Na rotina asquerosa de reuso de roupas, nos tufos de cabelo nos ralos, na carne ferida das meninas que tentam, inabilmente, fazer as próprias unhas. O fato de não ser mulher me leva aqui a caminhar em um terreno escorregadio – mas me consolo com a constatação de que caminhar em terrenos escorregadios é muito próprio da poesia de Mar Becker. De todo modo, creio que não é difícil perceber na reivindicação dessa disformidade uma revolta contra a assepsia, a perfeição e a obsessão da imagem que hoje esmaga a psique de tantas mulheres.
já eu, a quarta: eu era a horrível. meu nariz enorme de ave
minhas mãos. os dedos roxos de frio remontando a um passado perdido de rapina, talvez abutre
O espaço do oikos permite fugir a essa obsessão do rigor estético, tão própria do mundo público – sobretudo, do mundo público contemporâneo, saturado de imagens, saturado de olhares, saturado de limpeza. Por isso, há em Sal um Pequeno Hinário para Corpos em Desalinho. Por isso, os cães sarnentos que andam pela rua são acolhidos como prole, numa inversão do mito de Lupa.
sou mulher
com meu próprio seio alimentaria esses dois cães
qualquer mamífero da noite
A casa, por fim, é também o espaço do amor. Talvez aí esteja sua característica mais importante. O amor da poesia de Mar é também coisa noturna – ligado ao indizível, à premonição do fim. A tudo aquilo que é fronteiriço, obscuro. A fronteira é esse espaço de promessa e perigo no qual o encontro é possível.
amo-te a esta hora fragilíssima do dia
na divisa entre a noite e a manhã
E que encontro mais cheio de promessas e perigos do que o amor? Ele é, de fato, o único encontro possível nesse mundo onde tudo é estranho e incomunicável. Nesse mundo de constante ameaça. A poesia de Mar conhece esta verdade fundamental: o amor nasce da consciência da vulnerabilidade – do outro, de si, do mundo. No amor, tudo nasce frágil. Se é encontro, é um encontro perigoso, terrível –
uma espécie de história da barbárie contada
aos sussurros
E é também, é claro, cumplicidade silenciosa. Por isso, busca-se
que seja casa o amor
ainda que amar desabrigue
– pois a casa mesma é já lugar de desabrigo. Pode-se dizer que o amor é o fio unificador de sua poesia. Todos os temas de algum modo partem dele e convergem para ele. O leitor já terá percebido como ele se entrelaça com todos os demais tópicos que fomos comentando. O amor é a fibra da existência que resiste à morte e sobrevive como chama em sua própria ruína. A própria imagem da mulher submersa emerge dessa ruína do amor:
sou uma cidade submersa
quando à noite me deito contigo e te amo com todos os meus abismos
pela manhã sou uma cidade submersa
.
porque é assim que amo, lendária e triste. porque não posso senão amar com o que em meu corpo é a história do fim de uma linhagem, estéril como sou
e quando pela manhã tu vais e eu permaneço na cama, nua
quando pela manhã a luz do sol começa a entrar pela janela e preenche o quarto
nessa hora o suor se reacende
o sal cintila em minhas coxas
e eu, estéril
eu então sou uma mulher estéril repleta de estrelas
de constelações
O sal que cintila à luz do sol é o renascimento a partir da ruína. Aqui também, a vida nasce da morte. Creio que se pode dizer que o amor é, na poesia de Mar, a experiência teofânica primordial. É dele que nasce a sede pela palavra. A palavra poética, a palavra oracular. Há em seus versos um temor reverencial pelo amor, assim como pela palavra. E nenhuma palavra mais temível, mais preciosa do que o nome do amor, o nome do amado.
há manhãs em que me vejo à beira do teu nome
e não sou capaz de feri-lo
com a voz
Ou ainda…
diz-se que entre o fim da noite e o começo da manhã as cidades silenciam quase por inteiro
(…)
nesse tempo – as gargantas todas mortas
podes dar nome ao amor
E se o amor dos amantes é o encontro bárbaro, mortal que faz dos combatentes cúmplices –
amar como julieta
e descobrir teus olhos refletidos no fio de um punhal
– o amor das mães é esse terror que nasce da consciência desse espaço tão frágil, no qual suas filhas poderiam amanhecer devoradas. O amor tem me feito irmã de perigos tão delicados, diz a poeta.
Desse amor entre mãe e filha, nasce a corrente invisível que une as gerações de mulheres:
o sono respirando
nos lábios entreabertos. a mesma noite atravessava os anos pela boca da mãe até
nossas bocas
e das nossas bocas até a boca das bonecas
num ciclo de perpetuação
da fome
O amor é o fruto raro dessa terra de penúria. Aquilo que o sustenta à beirada dos abismos. Que permite que as gerações, uma após a outra, possam continuar existindo nessa terra atrofiada. Aqui, mais uma vez, o seu mundo está cheio de uma sublimidade trágica – a um só tempo divina e mundana – onde não existe perfeição, segurança, salvação. Mas onde medra, a despeito de tudo, um amor profundo e uma beleza sagrada (eis o seu milagre, se algum há). Onde toda a ambição é cumprir-me a mim mesma como extravio. Uma poesia que anota a experiência do desterro como se fora ela a única salvação.
Gustavo Lamounier Miranda é graduado em Línguas Clássicas na UFMG, além de escritor e poeta na horas vagas. Vive em Belo Horizonte (MG).