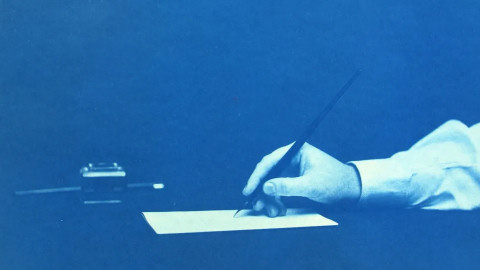Thomaz Albornoz Neves
Sant’Ana do Livramento – RS
Eliot e Adorno
Há um reconhecimento que antecede o raciocínio: o instante em que uma ideia dita por outro coincide com algo já intuido sem que se tenha formulado. Foi o que pensei hoje ao ler na Palestra sobre lírica e sociedade, do Adorno, que o valor de uma obra não reside na forma como algo é dito, mas no fato de que, se for bem dito, sua manifestação torna-se universal. Que a arte, se realizada, não é individual — é humana.
Recordo quando, ainda adolescente, disse ao meu pai que todos os poemas deveriam ser anônimos, ou que o nome do autor não passava de um pseudônimo. Ele reagiu dizendo que eu não tinha coragem de assinar o que escrevia. Era, talvez, o positivismo paterno confrontando minhas inquietações abertas. Para ele — para a sua geração, na realidade — o nome garantia a autoria; para mim, o anonimato garantia o universal.
O pensamento de Adorno — sua defesa da autonomia estética, sua recusa à ideologia — me pareceu a formulação rigorosa desse impulso de juventude. Cada livro que escrevi foi uma tentativa de sustentar essa contradição: existir na medida em que desapareço na linguagem como a montanha que deixou de ser montanha para voltar a ser montanha novamente.
Décadas depois, já no final da vida do pai — ele muito mais afável — enquanto eu estava escrevendo as notas sobre as dinastias chinesas em “Oriente”, lhe comentava sobre a condição que a tradição impunha sobre a originalidade naquela poesia, de modo que lá qualquer poeta só inova sobre o que já foi dito.
Lembrei disso, bom e de muitas outras coisas agora, ao ler no ensaio Tradition and the Individual Talent, de Eliot o seguinte trecho:
“Descobriremos, se nos aproximarmos de um poeta sem preconceito, que não apenas o melhor, mas também as passagens mais individuais de sua obra podem ser aquelas em que os poetas mortos, seus ancestrais, revelam mais vigorosamente sua imortalidade.”
Quer dizer, o indivíduo é o meio através do qual a tradição se renova. As mentes mais claras, as mais profundas, sejam do leste ou do oeste, parecem sempre chegar juntas ao mesmo lugar. O verdadeiro autor não é a originalidade, mas a continuidade.
Talvez por isso o natural seja não pertencer a uma língua, a uma história delimitada. Escrever para o homem. Transcender a cultura. Quando Eliot se refere aos ingleses, parte de um anglocentrismo datado, eu suspeito. É antipático. Mas por meia frase. Sua inteligência se encarrega de pacificar tudo o que expressa. Serve a todos.
Não é possível deixar de pensar, enquanto se lê, que Eliot teoriza sobre sua própria obra. Dificilmente se encontra tamanha harmonia entre poesia e reflexão sobre poesia. Salvo em Pound.
Mas, quanto de Pound existe em Eliot? E, por fim, porque Eliot, maculado pelo anti-semitismo, seu e o de Ezra, tem na posteridade mais salvo-conduto que o americano? Para dizer o menos. Talvez seja a época. Homens como Neruda e Eliot, aquele abandonou a filha com hidrocefalia, este a mulher com histeria, em clínicas por anos… nunca são inteiramente condenados.
Meu ponto, quero dizer, o ponto dos meus “24 verbetes”, é saber as razões pelas quais, mesmo hoje, separamos obras e pessoas para ler melhor. Não sei, isso talvez explique minhas entrevistas se interessarem nas pessoas por trás da obra. Percebo que sou guiado por umas poucas ideias centrais. Essa — a tensão entre vida e obra— é uma delas. Não deixo de pensar que a arte deveria humanizar antes o próprio artista.
Eliot:
“Quanto mais perfeito for o artista mais separado nele estará o homem da mente que cria.”
Eu não gostaria de respirar o mesmo ambiente com ele.
O que surpreende no texto do Eliot é o fato de ele não condicionar, ou melhor, não relacionar, seu “cristianismo” aos ataques que faz à metafísica da alma individual, à personalidade, que é onde se aproxima de Adorno, me parece. Ou talvez o cristianismo de Eliot seja tão profundamente meditado que ele próprio tenha chegado nessa despersonalização.
Empson, Friedrich e Berardinelli.
No seu livro — um clássico, publicado em 1930 — “Os sete tipos de ambiguidade”, William Empson discorre sobre como a linguagem pode ter várias leituras. Dos sete, os que mais interessam neste meu comentário são o quinto e o sexto.
5º. Quando uma declaração é tão contraditória ou sem sentido que o leitor é forçado a fornecer suas próprias interpretações.
6º: Quando uma declaração não diz nada e os leitores são forçados a inventar um significado.
São tipos que contêm muito do que se escreve em versos atualmente.
O trabalho crítico de Empson serve a Hugo Friedrich, que no seu “Estrutura da lírica moderna” (1956) a descreve (a tal lírica) como o exercício de uma radicalização formal cuja consequência foi a autonomia da linguagem — hermetismo, dissonância, ruptura — em relação à experiência histórica concreta, aos acontecimentos, por assim dizer.
Meio século depois, Alfonso Berardinelli vê nessa despersonalização do poeta um beco sem saída: a poesia teria se isolado do mundo e se tornado um código cifrado para iniciados baseado em um culto à dificuldade, em uma obscuridade programática. A lírica pura, tão admirada por Friedrich, teria conduzido, entre tantos outros excessos, à obsessão pela forma e ao vácuo da leitura.
Friedrich escreve no auge do modernismo. Berardinelli com a ressaca pós-moderna italiana, quando Zanzotto já tinha sido mastigado pelo establishment acadêmico. De certo modo, a “Estrutura da lírica moderna” elogia a força com que a arte se afasta da “realidade”. Berardinelli diz que esse distanciamento se esgota em maneirismo, em artificialidade poética.
Com isso, imagino que o italiano não desvalorize Mallarmé, Valéry ou Montale. O que ele pretende com os ensaios de “Da poesia à prosa” (1983–2001) é dar um basta na radicalização hermética moderna porque ela deixou de ser revolucionária, deixou de ser um gesto de liberdade, para tornar-se estereotipada.
Pasolini. Com Pasolini, Berardinelli acusa a necessidade de uma poesia que absorva o ensaio, a crônica, as formas abertas. Postula que o poeta deva voltar a falar como uma pessoa de verdade, no meio de acontecimentos objetivos.
Grosso modo, é isso. O esgotamento e a proposta de abertura. Mas o que temos hoje? Há um consenso, ou quase, de que a lírica pura, a poesia cifrada de, digamos, Valerio Magrelli (tão cerebral) é estéril e a tendência seria sua antítese, o relaxamento para o poema testemunhal ou performático.
(Não nos livramos da reação à ação).
A poesia publicada em livro circula em pedaços no Instagram. A legibilidade deve ser imediata. Duvido que Alfonso Berardinelli prevesse tamanha despotencialização da carga poética, mesmo que o poeta tenha voltado a ser mais objetivo que subjetivo.
Voltou? Não sei.
Eu me pergunto, enquanto passo os olhos no ensaio “Pós-modernidade e neovanguarda”, do livro de “Direita e esquerda na literatura”, se o isolamento do poeta moderno confronta o hermetismo remanescente ainda hoje com a fragmentada prosa poética, seus versos soltos (que virou mercadoria de likes). Quero dizer, não cheguei à conclusão alguma com as notas anteriores e sigo pensando nelas enquanto Alfonso me diz algo fascinante.
Afirma que, a partir da Revolução Francesa, a política tornou-se uma ideia fixa do Ocidente, apropriando-se da posição de chave interpretativa das realizações do espírito humano. E que nessa apropriação — vejam só — também a literatura passou a fazer parte dos programas ideológicos e que com frequência o leitor não separa os manifestos poéticos dos partidários.
Assim, ruptura e revolução são parte da arte moderna da mesma forma que o esgotamento da novidade, essa desconfiança crescente na ideia de progresso. O desprezo pela técnica. Ao negar a tradição, cada uma das sucessivas vanguardas que surgiram do século XIX ao XX — e que permanecem até hoje como ideal de criatividade — criou uma tradição da negação.
A pergunta final:
Me diga agora, Thomaz, o que faço com tudo isso?
É retórica, evidentemente. Sei o que fazer com o que leio. Agora, neste caso, devo trazer o trabalho crítico de “A estrutura da lírica moderna” e “Da poesia à prosa” à nossa realidade.
Mas qual realidade? Murilo Marcondes Moura, na orelha da edição da Cosac, lamenta que Bernardinelli não tenha lido Drummond e Bandeira, pois confirmariam suas ideias. No need. Para quem resgata a importância de Guido Gozzano e Umberto Saba sobre a dos poetas herméticos e os da posterior neovanguarda, como Edoardo Sanguinetti e Nanni Balestrinni, não teria problemas em identificar por aqui autores que dizem algo fora da experimentação. Para não ir longe, além de Carlos e Manuel, incluamos Milano, Cecília, Vinícius, Quintana, Adélia ou Hilda. (Dirão, com razão e para o bem do argumento, que Drummond e Bandeira foram modernistas de primeira hora, assim como Milano. Consideremos o rito de passagem como o que é, algo inicial.)
Mas o que a neovanguarda tem a ver conosco? Fora o fato de que Haroldo de Campos orbitava o histórico Grupo 63 na Itália do início dos anos 60, nada. Bem, aqui na fronteira com o Uruguai nada. Daqui, a Poesia Concreta, a Poesia Práxis e a Poesia Marginal são subprodutos culturais criados de fora para dentro e de cima para baixo. Não nos diz respeito algum.
A elitista, mecânica e, por vezes, luminosa, poesia de Décio e dos Campos dispensa apresentação crítica. Chamie inventou uma poética utópica e militante. Passageiros da Tropicália, Torquato, Wally, Geraldinho, Chacal e Mícolis se apagam perto da primeira grandeza de Cacaso. (Injusto seria omitir o quanto a geração diminuiu Antônio Carlos de Brito). Dessa poesia marginal, somente Leminski voou solo. Já Gullar foi um pouco de tudo. Inclusive parte do grupo de Alfonso, se considerarmos sua última fase.
O que, eu me pergunto, existe disso tudo nos poetas de hoje? Talvez, junto à sua crítica às vanguardas e sua artificialidade de origem, Berardinelli já tenha incluído (provavelmente o tenha feito, ignoro, não li o que escreveu após 2003) reparos ao “lugar de fala”, à poesia afro ou originária, LGBTQIAPN+ e tudo o que a diversidade e a inclusão trazem do terreno da sociologia para o da estética. Não sei, está tudo misturado. As fronteiras do visual, música e escrita se diluem e se indefinem.
Há muita gente escrevendo “à maneira de” — à maneira do Cabral, da poesia objetivista americana, da language poetry —. Mas poucos possuem um jeito de dizer que seja incontornável. Mesmo assim, é possível escolher meia dúzia de nomes que se destacam no cenário da poesia contemporânea. Os destaques de uma geração incolor, o que seria elogio e condenação simultâneos.
De toda forma, apesar de concordar sobre o esgotamento da experimentação, não compro totalmente a ideia de que a poesia deva voltar a relacionar-se com a prosa para aceder a uma experiência histórica concreta. A tradição brasileira — e também a portuguesa — é impura. Há lugar para a contenção e o coloquial na mesma estrofe. Não é comum de se encontrar, mas há.
A ideia de que existe uma “tradição brasileira” específica, com suas conquistas formais e sua trajetória peculiar, pertence, em grande parte, a uma mitologia construída pelo eixo Rio-SP que depois se irradia como norma para o resto do país. O modernismo de 22 é uma contradição evidente: quer ser cosmopolita e nacionalista ao mesmo tempo, quer destruir a tradição europeia e fundar outra tradição, agora “autenticamente brasileira”. Como se houvesse uma essência a ser resgatada. O resultado foi aquele primitivismo de almanaque — pau-brasil e Macunaíma — que é tão artificial quanto o parnasianismo que dizia combater com chavões de libertação. Mas o pior é herdar o “Rei da Vela” como bandeira de uma vanguarda coesa, maior que a sua própria existência. O vácuo, o eco do artifício, permanece.
O problema da periferia imitando o centro é ainda mais perverso. Um poeta de Cuiabá, de Recife, de Porto Alegre, em vez de explorar seu isolamento como condição produtiva (como fez Dickinson em Amherst, ou Pessoa em Lisboa, que era periferia da Europa), fica na posição subalterna de querer chegar ao centro, ser reconhecido por ele, adotar suas pautas e suas dicções. Vira um jogo de validação que é extraliterário desde o princípio.
Pensar que o homem é igual em toda parte e a língua um mesmo instrumento diferente em cada lugar, propõe uma outra maneira de pensar a literatura — não como expressão de identidade coletiva — mas como trabalho singular com um material que é, sim, historicamente situado (a língua portuguesa tem suas especificidades), mas cujas questões fundamentais são universais.
Celan ou Seféris podem importar mais para um brasileiro que Murilo ou Cabral. Eu não tenho dúvidas que a geografia é acidental, não essencial. E que essa afirmação soa quase heresia no meio literário nacional. A exigência de “abrasileirar” o tom, de ter “cara de Brasil”, funciona como um filtro de exclusão e de preservação de hierarquias.
Se escrevo os poemas de Renée em cinco línguas, faço com que cada uma module diferentemente a mesma matéria poética. Ao não declarar um original, desierarquizo as versões e suspendo a pressuposição de que há uma língua “verdadeira” e que as outras são apenas reproduções.
Assim, ao afirmar que a poesia é a mesma em qualquer língua e que o poema existe antes que qualquer dioma, pretendo que a linguagem poética supere sua natureza idiomática própria e seja uma língua inicial. Ou, se trago as palavras escritas em alemão por uma russa e dirigidas a um austríaco há exatos cem anos, é possível que minha posição não pareça tão absurda. Original eu sei que não é. Diz Tsvietáieva em uma carta a Rilke, em 6 de janeiro de 1926:
Para o poeta não existe a língua materna. Escrever versos significa traduzir. A poesia é uma tradução da língua materna à outra — seja esta o francês ou o alemão, é o mesmo —. Por isso não compreendo quando se fala sobre poetas franceses, russos, ou outros. O poeta pode escrever em francês, mas não pode ser um poeta francês. Isso é ridículo.
Neste ponto, cai de maduro vender a fronteira, a margem, como outra geografia simbólica no campo literário. Mas é justamente do que não se trata. Cuspo esse anzol. Cada um é seu próprio centro.
Thomaz Albornoz Neves (1963), nasceu em Sant’Ana do Livramento, RS. Autor de “24 verbetes – Ocidente – Ensaios e Traduções” (TAN/2022), “À espera de um igual” (TAN/2021) e outros.