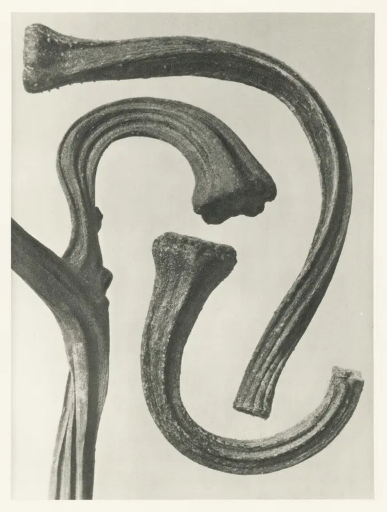reflexões sobre o pé da bailarina (2016, do livro “Debaixo do vazio”)
como pensar no peso
se o movimento encanta,
espalha qualquer névoa,
nódoa, bolha de sangue?
perto do chão conseguir-se altivo, idílico.
como questionar a dor, interpelar o segredo
a alimentar a beleza de carregar o peso,
enquanto agrada a multidão,
muito mais por daquilo que dela
passa contorcendo-se?
como entender o equilíbrio,
o entre: carregar o peso é dança
§
primeiro passeio de bicicleta (2016, do livro “Debaixo do vazio”)
O homem que pedala que ped’alma
com o passado a tiracolo,
ao ar vivaz abre as narinas:
tem o por vir na pedaleira.
Alexandre O’neill
nos pedais o corpo
alto e baixo, nos pedais
os dias sob a nudez
do metal lírico cortando
a potência que passou.
a velocidade que atrai também
passou, o cheiro do mato verde
sobre o guidão e o refluxo.
pedalo perto do chão,
flutuo com as marcas.
a pele são os dias,
tudo cabe, tudo pode
nos pedais, o corpo
alto e baixo, nos pedais
§
i.
(2019, do livro “As solas dos pés de meu avô”)
é pelos pés de meu avô que entendo a vida.
morto de cima de nove décadas esculpidas
nas rachaduras das solas duras, naquele
mesmo quarto de estreitos e sonhos.
caminho nos cascos a figurar seu povo,
na herança do sangue no olho
que o eco de sua voz ainda vive.
é pelos pés do morto, numa cama de pau,
que vejo a luz do dia chegar.
o choro, a reza, a morrinha de paz que fica.
§
ii.
(2019, do livro “As solas dos pés de meu avô”)
meu pai chegou à capital menino. de domingo
a domingo perdeu o que hoje não consegue mais lembrar.
veio para tentar a vida e ficou – foram as primeiras frases
que li naquelas solas duras de pés juntos, como os de quem reza.
era o título de um texto que continuava – depois fui eu
a partir para Lisboa em busca da manilha e do libambo que idealizei.
ecos em silêncio vindos de outra existência, idas de 1800, ou não,
ou de um call center, atendendo às ligações e sendo mandando de volta
a cada três minutos, recebendo ecos de outras partidas.
quando meu pai veio para a capital tinha a metade de mim,
a outra descobri quando retornei de Portugal.
há mais ou menos quarenta anos ele chegava,
após quatro eu voltei para o Brasil.
as rachaduras nas solas duras de meu avô
escreveram estas palavras também.
§
xxxix.
(2019, do livro “As solas dos pés de meu avô”)
estamos sentados numa cadeira
colonial de três lugares. o furtivo
tamanho das coisas do mundo,
pele com pele, acaba por nos unir.
nada parece que acontece, nada
importa mais do quando. estamos
perdidos e acordados agora.
meu pai aproxima-se e queda
o braço sobre mim, resgata
na distância da morte, canção.
a mesma que meu avô cantara
para ele e que passou para mim
como a única herança:
[ canta de novo, filho, canta,
nunca escrevi um poema.
§
oito (2020, do livro “Mainha”)
Minha mainha é metafísica
para a saúde de minha crítica.
Passo horas olhando a tarde
chegar, como quem parte
para uma imagem do Cabo da Roca
ou do Pelô atrás da mesma porta.
É página pintada com a mão,
parede, pedra que reinventa a razão,
minha mainha é o próprio tempo,
o Deus do último dia, sorrindo lento.
Também ensinou-me a ser mulher,
abracei essa sorte para o que der e vier.
Que sendo ela neste mundo,
achar-me-ia sem perder-me no fundo
dos raios mais límpidos da manhã,
da vida ou qualquer corrida vã.
Deu-me régua e compasso encerando a sala
e flexionou antíteses pálidas na fala
com o tom mais harmonioso e assíduo,
fez do estranhamento crescimento contínuo.
Depois mostrou-me a beleza de cair
sem sentir do chão o mundo a fugir.
Cair era o primeiro passo natural
quando se aprende a caminhar beiral,
feito bocejo ou antigo molejo
que as farpas exigem no pelejo.
A destreza do primeiro beijo,
contas quitadas sobre o que vejo.
Mainha ensinou-me a ler pelo fim,
sem a ilusão cultuada, encoberta do sim.
Da resiliência do girassol, modelou
nossos pensamentos juvenis, recriou
a maneira como coçávamos o nariz.
Mainha foi do curso do rio, o cariz
repetido e imaculado durante a chuva,
onde pulamos sem a vista turva.
Sem o medo de que acabasse o dia
ou o que não começara, sem ter alegria,
a melhor forma de curar a dor.
Mainha ainda tem aquele desejo de flor.
Deixo de abrir os olhos mergulhados,
prefiro inteiros contínuos desterrados.
Eu que sou sisudo e hermético quase
sem querer, sem sofrer, sem saber, quase
um desavisado dentro desse imenso mar.
Quero somente fechar os olhos ao mergulhar.
Que mainha dizia que é melhor sob pressão
e das águas enganar o desejo da contramão.
O sonho de mainha era fugir
ao menos uma única vez, partir
sem ligar para as lâmpadas acesas,
as torneiras e portas abertas, proezas
do início da união ou dos filhos
adolescentes, os mesmos ladrilhos
em qualquer casa desta cidade,
ou geografia testemunhal do tempo, arte
para não ceder aos descompassos do dia
como se todo embate fosse uma beleza fria.
O embate acontece quando coloca os pés
para fora da cama e encontra o único viés
que conduz para a fuga e firmamento
das forças paradoxais diárias, deslocamento.
Represo de mainha esta profunda condição
quando me perco em poemas sem tradição,
em versos performáticos que equalizam o meu corpo
a esmo dentro do enquadramento dos homens, um porco
gritando, perdido em seu último compêndio,
como agora recobro, traio-me em dispêndio.
Ter nas mãos um conjunto de subjetividades
marcadas por uma rasura em letra, idades
de um pêndulo em movimento sobre a queda
da carne, da relva, da esperança, única moeda
de troca para a lembrança que temos de aceitação
pós-entendimento da vida marcada pela afecção.
Essa sorte de poder entender e rasurar a estrada,
como mainha fez, sendo pelas cigarras orquestrada.
Uma série de abnegações naturais a ela,
por ser como é, feita do que revela.
Renúncia ainda é alguma parte do dia
de mainha, quando seu riso tremula, fia
em um desconhecido que parece ser riqueza,
dono e harmônico ainda a toda destreza.
Quando acontecem os pensamentos percebo
que padeço de fé e alcanço-me, mancebo
a subtonar a regra das coisas inteiras,
arremedo-me tornando-as etéreas e estrangeiras.
Nas ribeiras das águas do rio primeiro
versejo a luz de mainha, de um céu vimeiro.
Penso nela como coautora de si
e rapidamente desperto sentindo o fim
da primavera e um inverso dentro do início
do verão, já comum em não aquecer, artifício
para que a vida se justifique em uma metavida,
em partituras sem arte, apenas suor na lida.
Penso em mainha como dona de sua história
e ainda escuto sua voz em um canto antiglória
tocando em todo o espaço e reconfigurando
a razão de estarmos aqui, em arte, reinaugurando.
§
Poema de regresso (2022, do livro “Soprando o vento”)
i
para as primaveras
coleciono águas
em um fiar lento
enquanto sigo
lembro mesmo
sem nunca
ter vivido
ii
ando lendo: como
éramos felizes, não
sabíamos – por que
não rir disso também,
do paradoxo a espreitar?
iii
carrego um álbum desbotado.
a cada imagem que o toque descobre
reencontro a razão das amálgamas
diluindo nas ondas as amarras,
além da própria razão desconhecida.
revelo os pixels ao vento lento,
tardo pensando na face do android
processando-o diante do véu,
que em céu, nem por aquele breviário
é tocado como este cavalo
quando recebe o ar do mar
e fica a mastigar a grama.
tardo e não me tomo
por outras fotografias.
ela, por desleixo do dedo,
sob o desejo de reentabular a vida,
é que me faz, no balançar da crina,
do barco, neste mar reinaugurado.
iv
olho para a página
e a vida chama,
longe:
a cada passo
inverso,
o regresso
é em verso,
na eternidade
da folha
em branco.
§
Ecos n.1
(2022, do livro “Para além de 22, um roteiro poético da semana de 22”)
não há retorno na marginal,
só radares e placas
de velocidade.
um quedar sobre o espelho
enquanto as cores, os sons,
a vida é retida de soslaio.
dirigir é a linguagem
de uma fuga que não quer
chegar – o poema
sobre a mesa: soltar as mãos,
metadireção.
e nada é maior do que o acaso
em forma de canção,
de retorno para a avenida,
não há retorno na marginal
[coração ante coração
só as imagens que guardo
como versos
para um poema que não foi escrito.
carrego versos de um mundo inteiro,
de vários mundos, versos,
sou o poema que não foi escrito.
e observo os retrovisores,
a estrada,
meu corpo estático
levado
pelas ruas da cidade.
– não há retorno,
há apenas medidores,
inibidores de velocidade,
enquanto os animais cruzam a pista,
enquanto a flora paira
sobre a vista. invade.
estou cercado pela geometria
dos homens
e cheio de subjetividades,
e “Sublunar” é o livro
que carrego no carona,
e a viagem. saúdo
o deus dos versos
livres,
mesmo presos
na cidade. abaixo
lentamente
o vidro da janela
e tento resistir ao capítulo
em que fecho os olhos ao vento,
[não há retorno
há apenas a estrada,
este peito aberto do destino.
§
Madame Bovary, c’est moi (2024, do livro “Caramelo quer ver o mar”)
a cidade sou eu,
cortando, a quatro patas, o verbo
que a todos sustenta, por onde
passam dúvidas e sonhos.
a cidade sou eu,
escrevendo com os dentes
afiados na dúbia maestria
viva de mostrá-los –
veja!
a cidade sou eu,
tateando o que me foi legado:
a herança Macro-jê,
a diáspora atlântica,
marcas no fundo branco
do olho de toda gente.
a cidade sou eu,
revirando os ossos,
costurando na rabiola
do tempo o tempo.
a cidade sou eu.
não há crime maior,
o de existir.
Tiago D. Oliveira (Salvador, BA, 1984) é poeta, escritor, professor e pesquisador, com formação em Letras pela UFBA e UNL (Portugal). Foi finalista do Prêmio Oceanos 2020 com o livro As solas dos pés de meu avô (2020), publicado no Brasil e em Portugal. Vencedor do Selo João Ubaldo Ribeiro 2020 com a obra Soprando o vento (2020). Lançou recentemente Caramelo quer ver o mar, 7 Letras, (2024).