Lucio Carvalho
Bagé – RS
AS PEDRAS PRETAS DA PRAIA
Nina se foi ontem. Sob a porta da casa fechada, posso distinguir a tranca que esteve nestes dias mantendo sempre uma das folhas da porta dupla entreaberta. A casa mesmo como uma concha aberta pela força do mar de encontro às pedras pretas da praia.
Olhando pelas poucas frestas, posso ver a areia que eu trouxe ali para dentro e ali ficou, acomodando-se no piso machucado, nas madeiras que o tempo e a maresia sulcam e enrugam como a pele de dentro do lugar, porque a casa de Nina é um corpo também. Um corpo com a única diferença de ter um endereço e, só às vezes, uma alma ocupando-o com as músicas dos seus discos, o bater das suas panelas, o tilintar das suas louças e a sua voz rouca. A casa de Nina é o seu corpo que permanece depois que ela se vai. Um espectro de tijolos e tábuas de quem sempre se vai sem nunca avisar a ninguém.
Eu disse que ela cantarolava em bocca chiusa o tempo inteiro? Cantarolava também, e especialmente sempre que não queria me responder qualquer coisa. Eu sabia que perguntar o que quer que fosse de nada adiantava mesmo e a verdade é que quase tudo a incomodava. Mas ela cantava e sorria eu acho que para não me chatear. Quem não gosta de ser chateado também não gosta de chatear aos demais.
Ao alto, agora o voo das fragatas ensaia ir novamente de encontro à praia, mas seus pescados e mariscos também partiram – igual ao que ela fez: sem deixar recados com ninguém. Afora as lembranças, vestígio nem um.
Decidido a não pronunciar mais o seu nome até que ela voltasse, no próximo verão, um instante só pensei em buscar com o vendedor do armazém em frente por notícias suas. Mas e se ele também a procurasse? Melhor não. Obviamente desisti sem me aproximar, mas, nos dias seguintes, me procure sentado ali, bebendo gim duplo até a hora de escurecer.
Eu também não queria saber nem aonde ela teria ido, ao encontro de que vida, se uma vida com rotina ou o quê, mas isso não parecia possível, eu nunca soube o que ela fazia longe dali. E pensava que só o que se admitia, tratando-se dela, é que estivesse enchendo o ar com seus pequenos risos e cantos silenciosos.
Também se a sua vida não fosse exatamente assim noutro lugar, melhor seria não saber de nada. Melhor guardar só a sua imagem, nem a sua imagem, seu vulto assomando à noite alta e morna de verão o calor tépido que trazia sempre consigo, como uma túnica, e a voz cantando-me “já chega agora/o tempo vai passar, se acalme/só não vamos deixar que ele passe em vão…”

A CASA DE NINA
Não, nunca nem sonhei com Nina, é o que respondo ao dono do armazém e só então ele carrega as duas doses de gim de hábito no meu copo.
De pé ao meu lado, com o pano de pratos sobre um dos ombros, olhamos quem passa sem muito interesse. Poderiam ser clientes, mas o seu armazém esvaziou-se quase até a precariedade nos últimos tempos, sem como enfrentar a concorrência. A não ser quem procure afogar as mágoas, quase ninguém mais aparece, só às vezes um moleque em busca de cebolas para um jantar apressado, a pedido de alguém, e ainda mais agora que começa a esfriar e as casinhas da praia encolhem-se para dentro das persianas e portas fechadas.
Quase diante de nós, a casa de Nina é igual a um caramujo que não ousa dar sinal de vida. Sem ruídos internos, o vento de abril atravessa as frestas das janelas e produz um canto triste, noturno e fantasmático. Por um instante, aquilo me lembra do modo que ela tinha de cantarolar sempre com a boca fechada, exprimindo pelos olhos e sobrancelhas os acentos das canções obscuras que nunca entendi.
“Dizem que a casa é assombrada, não dizem?”, indago enquanto ele já começava a se afastar. Ele então retorna parando dessa vez rente à mureta baixa que separa o armazém da rua, perpendicular a mim. “Dizem muita besteira por aí…” assevera. E logo continua, reticente: “Mas quem é que vai saber?…”
O vento sopra um pouco mais forte e traz consigo um tanto da areia seca que foi se depositando sobre o chão da ruela. Um pouco disso entra em meus olhos, forçando-me a fechá-los e, quando volto a abri-los, ele já se foi para o interior do armazém ou para qualquer outro lugar. Quase ao meu lado, um gato mia como se eu tivesse algum pescado para lhe alcançar, mas logo se afasta e justamente em direção à casa de Nina. Patinha por patinha, passa por baixo do cercadinho de arame e some detrás das paredes.
Sem que eu saiba o porquê, intuição talvez, entendo que ele está me indicando que devo segui-lo, que ele sabe um modo de entrar na casa sem arrombá-la e que me mostrará o melhor modo de fazê-lo se eu não me demorar muito.
Deixo o copo quase sem tocar e saio em seu encalço.
Em dada altura, nem o bichano posso mais enxergar porque uma neblina vinda do litoral começa a escurecer tudo, à exceção de uma janela nos fundos da casa da qual parece emanar uma luminosidade sutil. Levo a mão de encontro à veneziana e uma de suas faces escorrega para dentro, como se abrindo espaço para que eu entre finalmente. Apesar da escuridão, não sinto medo, apenas curiosidade em entender o que há ali que antes, em sua companhia, eu não tenha visto.
“Nina?”, pergunto. Não ouço nada. Mesmo o vento choroso que parece viver ali também permanece quieto, como se aguardasse também a minha atitude. “É você, Nina? Por que não aparece?”, volto a indagar e o mesmo silêncio prossegue na sua emissão nula, concreta, imóvel.
Com os dois pés na sua sala, sinto o vento agora silencioso roçar os pelos das pernas. Olho para baixo e noto que a areia amontoou-se também dentro de casa e se transformou numa espécie de tapete, abafando os passos de quem quer que ande ali dentro.
Mas havia alguém?
Se havia, não se mostrava a não ser nos rastros muito delicados, há tempos sulcados na areia, e que me levaram a segui-los até dar num pequeno aparador muito rústico, de madeira, onde ela guardava as chaves de casa numa concha de cerâmica e um vaso com flores. Ali elas permanecem envoltas pela mesma neblina que há do lado de fora. As chaves também. E um retrato muito antigo de Nina, linda e imensa como a própria casa, sorria em minha direção para me receber.

NINA E O GIRASSOL
Decidi ir embora quando junho chegou e a geada veio e finalmente alcançou o pé da serra, queimando até o talo o brócolis, os pés de couve mais resistentes e a meia dúzia de girassóis que haviam nascido na primavera anterior.
Assisti por três meses o movimento de ir e vir dos ônibus, depois da rodoviária ser improvisada quase ao lado de casa, e não entendia o que aquilo me causava, que sensação de agonia era aquela. A poeira que as rodas levantavam por tudo e jogavam para dentro de casa é o que me fazia desistir de ficar examinando um a um os passageiros, como se pudesse discerni-la entre os desconhecidos.
Não tinha um pensamento nítido para aquilo que passava, julgava que as pessoas não se aquietam em lugar nem um, e eu sempre vivi no mesmo lugar, primeiro seguindo meu pai no trabalho dele, depois vivendo na sua mesma casa e seguindo a sua ocupação entre os feirantes que aos sábados se acotovelam para as suas vendas, desocupando as hortas para a sucessão dos novos cultivos e assim vivendo indefinidamente.
Só mesmo a mulher do José Manoel na feira parecia ter percebido que eu andava “aburrido“, como ela dizia. A Juana era argentina, de Libres, e nunca soube exatamente como veio parar naquele balneariozinho. Com a banca bem em frente à minha, era com eles que eu fazia troco quando preciso e guardava encomendas e outras gentilezas que a convivência ensina a gente a ter uns com os outros sem que seja preciso dizer nada.
“Es la madama, tu problema, hijo mio”, ela segredou-me compreensiva um dia em que estive calado a ponto de parecer doente e eles os dois se preocuparam comigo, até mesmo porque havia dias que eu não andava pelo armazém e o gim, diziam, estava no ponto em que eu o deixara nas garrafas do Armando, estacionadas nas prateleiras cobertas pelas encardidas toalhas de plástico e andariam já por juntar teias de aranha.
A Juanita sabia quem era a Nina porque no verão ela vinha com uma cesta e escolhia sem olhar os frutos mais tenros, as verduras mais frescas, o pão mais recente e tudo parecia se oferecer a ela como num ritual natural, numa oferta dadivosa. Acredito que também tenha me visto alguma vez dirigir-me à sua casa nos fins de tarde carregando pescados e garrafas de vinho para o jantar, mas nunca me disse nada quanto a isso.
Houve uma vez em que tive a impressão de que desejava me advertir de alguma coisa e eu fiz que não entendi, o verão já se acabava e eu sabia que, depois que partisse, veria Nina somente no outro ano e até lá… Até lá, me veria com o seu fantasma rondando meus dias e noites, até que o gim adocicado me entorpecesse o bastante para chegar em casa e derrubar-me de um golpe só na cama em direção ao sono e ao próximo dia inevitável. Ela não insistiu.
Ficava pensando se um dia, por entender minha aflição, Nina voltaria a descer de algum daqueles ônibus que de duas em duas horas chegavam ao atracadouro de pedra polidas da rodoviária agora instalada a poucos metros de casa. Mal ou bem, a mudança me servira para que não alongasse demasiadamente o despertar. Ali pelas seis da manhã partia o primeiro ônibus para a capital e o ruído dos motores e conversas faziam as vezes de despertador público para mim e a pouca vizinhança do lugarejo.
Abril e maio eu até aguentei bem, mas quando a geada tomou os girassóis que ela me presenteara, decidi que iria eu mesmo ao seu encontro. Há tempos eu tinha de resolver alguma burocracia na secretaria de agricultura e aquela haveria de ser a minha oportunidade de ouro, se eu tivesse alguma pista do seu paradeiro, mas eu não tinha muito. O mais que eu tinha era a convicção mágica de que se a encontrasse nada nos faltaria. Olharíamos bem um nos olhos do outro e tomaríamos a única decisão possível: viveríamos juntos em qualquer lugar que ela decidisse… Azar o da horta, das hortaliças, dos pés de couve, dos feirantes e do gim batizado que o Armando me vendia naquele seu armazém de sexta categoria. Lamentaria pela amizade do José Manoel e da Juanita, mas eu sei que eles entenderiam a minha situação, era isso ou viver igual a um morto-vivo, um zumbi claudicando numa praiazinha deserta que no inverno parecia mais uma fantasmagoria que um município.
“E onde é que vai procurar por ela?”, o José indagou quando anunciei que aquele era meu último sábado entre eles. Respondi que o destino, “o destino, meu amigo José…”, o destino voltaria a nos colocar frente a frente, como seria direito. Os dois me examinaram preocupados, mas, como sabiam que não podiam fazer nada, lamentaram sobretudo pela ausência que pareciam adivinhar olhando o movimento cada vez mais escasso de passantes cruzando vagarosamente entre nós, a revirar as hortaliças e a reclamar dos preços.
Com a casa lacrada, a picape guardada, subi ao ônibus e escolhi um lugar bem dianteiro para ver a estrada desdobrando-se diante dos meus olhos e ter apenas a visão do que viria pela frente. Nada disso de olhar ou lamentar o passado. Se a gente não vive assim, ai de nós, que o passado vem e nos abocanha o pé arrastando-nos em direção a sua barriga com o seu apetite insaciável.
Eu nem lembrava mais o quanto me exasperava a capital, de tanto tempo que não colocava os pés aqui, mas desci resolvido a investigar os pequenos indícios que tinha. Olhava para o nome do hospital onde ela disse trabalhar e eu anotei às pressas num bilhete numa remota noite enluarada em que a lua cheia nos serviu de abajur e contávamos as vezes em que a arrebentação se espatifava contras as pedras pretas da praia. E coloquei o pé no asfalto ao mesmo momento em que escutei a freada e o guincho dos pneus arrastando-se no chão. Depois, nada mais.
Decerto havia morrido, porque custei a acordar de um sono branco, infindável e rumoroso. Decerto estou morto, porque olho para cima e é como se um imenso girassol virasse sem razão nenhuma em minha direção, risonho e radiante.
“Nina?”, pergunto a fim de me certificar, pois podia ser um desses delírios que se tem às vésperas da morte. Ela me olhava como se imaginando o que eu estava fazendo ali, sorrindo e cantarolando uma coisa qualquer com a boca fechada.
“Sou eu, sim…”, e a sua voz inconfundível disse que estava tudo bem, eu estava fora de perigo e ela me levaria para casa. Olhou para trás certificando-se de que não havia mais ninguém e tocou meus lábios de leve, quase sem tocá-los, permitindo apenas a passagem sutilíssima do ar, e depois, porque já não era mesmo preciso, não acordei nunca mais.
Lucio Carvalho nasceu em Bagé (RS) e mora em Porto Alegre (RS). Autor de “La Minuana” (2023, TAN), “Down House, 1858: o memorial de Charles Waring Darwin” (Dialogar/2024) e outros.




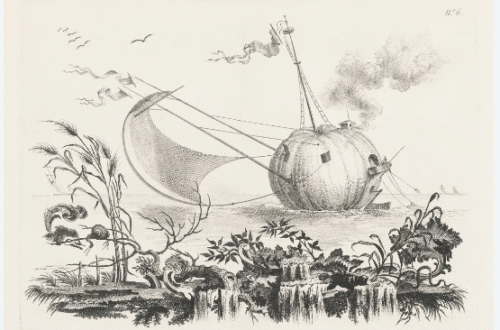
Eu gosto muito do que tu escreves. Tua literatura me atinge. Nunca me esgota. Parabéns por este belo conto.